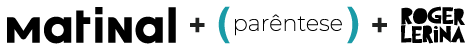Quando fui morar na França, no meio dos anos Noventa, eu já era poeta. Pensava que ser poeta limitava-se a escrever poesia. Já era também psiquiatra e acreditava que ser psiquiatra era oferecer psicoterapia com noções de psicanálise ou, conforme o caso, medicar com o de mais moderno havia na indústria farmacêutica. Misturava Haldol com ideal do ego e Prozac com inconsciente. Ao desembarcar em Paris, comecei a atender no Serviço de Psiquiatria da Infância e da Adolescência do Hospital Avicenne, Universidade Paris 13, dirigido pelo Professor Philippe Mazet. Situava-se no nordeste da cidade, adiante do fim da linha La Courneuve, do metrô. Era o coração da banlieu ou o subúrbio, o que significava trabalhar com imigrantes, especialmente africanos. Para muitas daquelas famílias, o psiquiatra que eu era nada queria dizer. Um antidepressivo, por mais que reequilibrasse as quantidades de seus neurotransmissores cerebrais, surtia pouco efeito geral, porque o significado de uma depressão lhes era outro e totalmente diverso. Noções como ideal de ego ou inconsciente sequer eram alemãs para seus ouvidos originais; gregas, talvez, mas ali a Esfinge não apitava. Por isso, havia no Serviço um departamento que se chamava Etnopsiquiatria, coordenado por uma espanhola radicada na França, a Marie-Rose Moro. Todas as consultas eram feitas em grupo, incluindo a família da criança e toda a equipe que os atendia. Era uma baderna sincera, um entra-e-sai verdadeiro, com direito a momentos de canto, de dança e muitas histórias contadas. Os protagonistas da equipe terapêutica não eram psiquiatras ou psicólogos, mas antropólogos e tradutores. Fui chamado inicialmente para traduzir as consultas das famílias que vinham do Cabo Verde, mas acabei me aquerenciando para as demais etnias. Se, antes, não respondiam aos chamados medicamentosos ou psicanalíticos, agora o efeito era outro. E muito mais intenso. O reencontro com um grupo, um idioma e uma cultura faziam o maior sentido para os sofridos consultantes. Vi uma família haitiana deixar de ser deprimida ao perceber que era compreendida no fato de que sofria o efeito de um vudu que lhe haviam feito mais de dez anos antes. Vi uma família do Mali deixar de ser depressiva, quando o antropólogo sugeriu que as quatro mulheres parassem com o mimimi e retomassem a hierarquia de quem mandava em quem, restabelecendo a primazia para a primeira esposa. E, sobretudo, vi muitas crianças se recuperarem de seus transtornos de aprendizagem, quando seus pais receberam a interpretação de que seus filhos não conseguiam aprender por estarem secretamente proibidos de fazê-lo, já que o seu acesso à cultura francesa significava a realidade de um exílio irreversível para todos. Certa vez, quase fui linchado literalmente pelos colegas por ter aventado a presença de uma síndrome genética em uma criança. Tempos depois, entendi que ser reconhecida supostamente como auxiliar de feiticeira ofertava a ela um destino bem mais bonito do que eu e minha medicina, que tanto se achava. As palavras que dizíamos precisavam ter muita prosódia, melodia e logo fui reconhecido como o poeta brasileiro, ou o sambista. Felizmente, não […]
Quando fui morar na França, no meio dos anos Noventa, eu já era poeta. Pensava que ser poeta limitava-se a escrever poesia. Já era também psiquiatra e acreditava que ser psiquiatra era oferecer psicoterapia com noções de psicanálise ou, conforme o caso, medicar com o de mais moderno havia na indústria farmacêutica. Misturava Haldol com ideal do ego e Prozac com inconsciente. Ao desembarcar em Paris, comecei a atender no Serviço de Psiquiatria da Infância e da Adolescência do Hospital Avicenne, Universidade Paris 13, dirigido pelo Professor Philippe Mazet. Situava-se no nordeste da cidade, adiante do fim da linha La Courneuve, do metrô. Era o coração da banlieu ou o subúrbio, o que significava trabalhar com imigrantes, especialmente africanos. Para muitas daquelas famílias, o psiquiatra que eu era nada queria dizer. Um antidepressivo, por mais que reequilibrasse as quantidades de seus neurotransmissores cerebrais, surtia pouco efeito geral, porque o significado de uma depressão lhes era outro e totalmente diverso. Noções como ideal de ego ou inconsciente sequer eram alemãs para seus ouvidos originais; gregas, talvez, mas ali a Esfinge não apitava. Por isso, havia no Serviço um departamento que se chamava Etnopsiquiatria, coordenado por uma espanhola radicada na França, a Marie-Rose Moro. Todas as consultas eram feitas em grupo, incluindo a família da criança e toda a equipe que os atendia. Era uma baderna sincera, um entra-e-sai verdadeiro, com direito a momentos de canto, de dança e muitas histórias contadas. Os protagonistas da equipe terapêutica não eram psiquiatras ou psicólogos, mas antropólogos e tradutores. Fui chamado inicialmente para traduzir as consultas das famílias que vinham do Cabo Verde, mas acabei me aquerenciando para as demais etnias. Se, antes, não respondiam aos chamados medicamentosos ou psicanalíticos, agora o efeito era outro. E muito mais intenso. O reencontro com um grupo, um idioma e uma cultura faziam o maior sentido para os sofridos consultantes. Vi uma família haitiana deixar de ser deprimida ao perceber que era compreendida no fato de que sofria o efeito de um vudu que lhe haviam feito mais de dez anos antes. Vi uma família do Mali deixar de ser depressiva, quando o antropólogo sugeriu que as quatro mulheres parassem com o mimimi e retomassem a hierarquia de quem mandava em quem, restabelecendo a primazia para a primeira esposa. E, sobretudo, vi muitas crianças se recuperarem de seus transtornos de aprendizagem, quando seus pais receberam a interpretação de que seus filhos não conseguiam aprender por estarem secretamente proibidos de fazê-lo, já que o seu acesso à cultura francesa significava a realidade de um exílio irreversível para todos. Certa vez, quase fui linchado literalmente pelos colegas por ter aventado a presença de uma síndrome genética em uma criança. Tempos depois, entendi que ser reconhecida supostamente como auxiliar de feiticeira ofertava a ela um destino bem mais bonito do que eu e minha medicina, que tanto se achava. As palavras que dizíamos precisavam ter muita prosódia, melodia e logo fui reconhecido como o poeta brasileiro, ou o sambista. Felizmente, não […]  Quando fui morar na França, no meio dos anos Noventa, eu já era poeta. Pensava que ser poeta limitava-se a escrever poesia. Já era também psiquiatra e acreditava que ser psiquiatra era oferecer psicoterapia com noções de psicanálise ou, conforme o caso, medicar com o de mais moderno havia na indústria farmacêutica. Misturava Haldol com ideal do ego e Prozac com inconsciente. Ao desembarcar em Paris, comecei a atender no Serviço de Psiquiatria da Infância e da Adolescência do Hospital Avicenne, Universidade Paris 13, dirigido pelo Professor Philippe Mazet. Situava-se no nordeste da cidade, adiante do fim da linha La Courneuve, do metrô. Era o coração da banlieu ou o subúrbio, o que significava trabalhar com imigrantes, especialmente africanos. Para muitas daquelas famílias, o psiquiatra que eu era nada queria dizer. Um antidepressivo, por mais que reequilibrasse as quantidades de seus neurotransmissores cerebrais, surtia pouco efeito geral, porque o significado de uma depressão lhes era outro e totalmente diverso. Noções como ideal de ego ou inconsciente sequer eram alemãs para seus ouvidos originais; gregas, talvez, mas ali a Esfinge não apitava. Por isso, havia no Serviço um departamento que se chamava Etnopsiquiatria, coordenado por uma espanhola radicada na França, a Marie-Rose Moro. Todas as consultas eram feitas em grupo, incluindo a família da criança e toda a equipe que os atendia. Era uma baderna sincera, um entra-e-sai verdadeiro, com direito a momentos de canto, de dança e muitas histórias contadas. Os protagonistas da equipe terapêutica não eram psiquiatras ou psicólogos, mas antropólogos e tradutores. Fui chamado inicialmente para traduzir as consultas das famílias que vinham do Cabo Verde, mas acabei me aquerenciando para as demais etnias. Se, antes, não respondiam aos chamados medicamentosos ou psicanalíticos, agora o efeito era outro. E muito mais intenso. O reencontro com um grupo, um idioma e uma cultura faziam o maior sentido para os sofridos consultantes. Vi uma família haitiana deixar de ser deprimida ao perceber que era compreendida no fato de que sofria o efeito de um vudu que lhe haviam feito mais de dez anos antes. Vi uma família do Mali deixar de ser depressiva, quando o antropólogo sugeriu que as quatro mulheres parassem com o mimimi e retomassem a hierarquia de quem mandava em quem, restabelecendo a primazia para a primeira esposa. E, sobretudo, vi muitas crianças se recuperarem de seus transtornos de aprendizagem, quando seus pais receberam a interpretação de que seus filhos não conseguiam aprender por estarem secretamente proibidos de fazê-lo, já que o seu acesso à cultura francesa significava a realidade de um exílio irreversível para todos. Certa vez, quase fui linchado literalmente pelos colegas por ter aventado a presença de uma síndrome genética em uma criança. Tempos depois, entendi que ser reconhecida supostamente como auxiliar de feiticeira ofertava a ela um destino bem mais bonito do que eu e minha medicina, que tanto se achava. As palavras que dizíamos precisavam ter muita prosódia, melodia e logo fui reconhecido como o poeta brasileiro, ou o sambista. Felizmente, não […]
Quando fui morar na França, no meio dos anos Noventa, eu já era poeta. Pensava que ser poeta limitava-se a escrever poesia. Já era também psiquiatra e acreditava que ser psiquiatra era oferecer psicoterapia com noções de psicanálise ou, conforme o caso, medicar com o de mais moderno havia na indústria farmacêutica. Misturava Haldol com ideal do ego e Prozac com inconsciente. Ao desembarcar em Paris, comecei a atender no Serviço de Psiquiatria da Infância e da Adolescência do Hospital Avicenne, Universidade Paris 13, dirigido pelo Professor Philippe Mazet. Situava-se no nordeste da cidade, adiante do fim da linha La Courneuve, do metrô. Era o coração da banlieu ou o subúrbio, o que significava trabalhar com imigrantes, especialmente africanos. Para muitas daquelas famílias, o psiquiatra que eu era nada queria dizer. Um antidepressivo, por mais que reequilibrasse as quantidades de seus neurotransmissores cerebrais, surtia pouco efeito geral, porque o significado de uma depressão lhes era outro e totalmente diverso. Noções como ideal de ego ou inconsciente sequer eram alemãs para seus ouvidos originais; gregas, talvez, mas ali a Esfinge não apitava. Por isso, havia no Serviço um departamento que se chamava Etnopsiquiatria, coordenado por uma espanhola radicada na França, a Marie-Rose Moro. Todas as consultas eram feitas em grupo, incluindo a família da criança e toda a equipe que os atendia. Era uma baderna sincera, um entra-e-sai verdadeiro, com direito a momentos de canto, de dança e muitas histórias contadas. Os protagonistas da equipe terapêutica não eram psiquiatras ou psicólogos, mas antropólogos e tradutores. Fui chamado inicialmente para traduzir as consultas das famílias que vinham do Cabo Verde, mas acabei me aquerenciando para as demais etnias. Se, antes, não respondiam aos chamados medicamentosos ou psicanalíticos, agora o efeito era outro. E muito mais intenso. O reencontro com um grupo, um idioma e uma cultura faziam o maior sentido para os sofridos consultantes. Vi uma família haitiana deixar de ser deprimida ao perceber que era compreendida no fato de que sofria o efeito de um vudu que lhe haviam feito mais de dez anos antes. Vi uma família do Mali deixar de ser depressiva, quando o antropólogo sugeriu que as quatro mulheres parassem com o mimimi e retomassem a hierarquia de quem mandava em quem, restabelecendo a primazia para a primeira esposa. E, sobretudo, vi muitas crianças se recuperarem de seus transtornos de aprendizagem, quando seus pais receberam a interpretação de que seus filhos não conseguiam aprender por estarem secretamente proibidos de fazê-lo, já que o seu acesso à cultura francesa significava a realidade de um exílio irreversível para todos. Certa vez, quase fui linchado literalmente pelos colegas por ter aventado a presença de uma síndrome genética em uma criança. Tempos depois, entendi que ser reconhecida supostamente como auxiliar de feiticeira ofertava a ela um destino bem mais bonito do que eu e minha medicina, que tanto se achava. As palavras que dizíamos precisavam ter muita prosódia, melodia e logo fui reconhecido como o poeta brasileiro, ou o sambista. Felizmente, não […] RELACIONADAS