Aparecida Villaça: Da ecologia ao perspectivismo

Conheci a Aparecida Villaça primeiro por escrito, no belíssimo livro Paletó e eu – Memórias de meu pai indígena (Todavia, que foi resenhado em número anterior da Parêntese). Me entusiasmei com o belo texto, que contava de uma belíssima experiência: uma antropóloga que lidava, por escrito, com a morte de um indígena, esse com o peculiar apelido de Paletó (ela explica no livro, claro), que ao morrer a levou a um luto significativo, de um parente, não de sangue mas da vida. Foi Paletó uma figura central para o trabalho a Aparecida faz em Rondônia desde 1986, com a etnia Wari’.

O relato do livro é encantador, não pelo lado da teoria ou do relato antropológico, mundo que conheço apenas como amador, mas pelo lado humano mesmo, marcado aqui por essa diferença cultural entre a autora e seu pai indígena. Como é ter um pai assim? Como foi conhecê-lo? Como ele se portou ao vir para o litoral, para o Rio de Janeiro, cidade da Aparecida? Tudo isso é matéria-prima bem trabalhada no texto, num relato limpo, com emoção contida e muita sabedoria.
Depois, fui convidado pela organização da Feira do Livro do ano passado para estar numa mesa com a Aparecida. Com muito gosto lá fui eu, fazer perguntas a ela de forma que seu livro ganhasse mais leitores, como merece. Desde então tive a intenção de entrevistá-la, o que acabei fazendo por whatsapp, em alguns dias do último abril.
A pesquisa da Aparecida Villaça está no centro de um evento intelectual magno no país e no mundo, sem exagero: a formulação do “perspectivismo ameríndio”. Ela, Tânia Stolze de Lima e o orientador das duas, Eduardo Viveiros de Castro, com suas pesquisas, leituras, debates, impasses e ideias, descreveram relatos (mitos) e práticas sociais de várias etnias amazônicas e dão a ver uma visão do mundo que quase nada tem a ver com a visão ocidental, majoritária entre nós. Onde nós imaginamos um mundo em que todos, incluindo os humanos, eram todos animais, os ameríndios concebem um mundo em que todos, incluindo os animais, eram humanos. Para eles, o ponto de vista, quer dizer, a capacidade de olhar para o mundo e para o outro e formular pensamentos sobre eles não pertence apenas aos humanos, mas também a animais, a elementos da natureza como rios, lagos, etc., e mesmo a mortos.
Trata-se de um mundo em que todos têm perspectiva (daí o nome) e portanto ninguém é meramente objeto do homem, que para nós, ocidentais, é o único a ter ponto de vista. Soa estranho? Leia a entrevista, que conta da gênese dessa formulação. E leia esses sensacionais antropólogos, que estão revelando um mundo de novidades, velhas talvez como a presença humana nas Américas, mas cheias de interesse para o nosso futuro comum.
Aparecida Vilaça é antropóloga e professora do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social do Museu Nacional da UFRJ. É autora de diversos livros, dentre os quais Quem somos nós. Os Wari’ encontram os Brancos (Editora UFRJ, 2006), Preying and Praying. Christianity in Indigenous Amazonia (University of California Press, 2016), Comendo como gente. Formas do canibalismo wari’ (Mauad X, 2017) e Paletó e eu. Memórias do meu pai indígena (Todavia, 2018), este último vencedor do prêmio Casa de Las Américas, 2020.
P – Tu sempre quiseste ser antropóloga? Como foi teu caminho?
Aparecida Villaça – Em que momento aparece a antropologia no meu horizonte? Aparece muito tardiamente, mas ao mesmo tempo eu tenho uma certa questão familiar que poderá ter me levado a isso. Minha família materna veio do Maranhão, minha mãe é nascida lá, e minha família paterna é de Minas Gerais. Eu tive contato muito íntimo com meus avó maternos que migraram para o Rio de Janeiro. O meu avô materno, Manuel Neiva Moreira, foi criado num sítio no interior do Maranhão. Então as histórias, as imagens dele de infância, que ele partilhava com a gente, com os netos, eram muito de sítio, de plantação, de mato. E a minha avó materna, também do Maranhão, criada na cidade, sempre teve um amor muito grande pelo meio não urbano. Ambos gostavam muito de mato. Além disso, cresci em Volta Redonda até os nove anos, porque meu pai trabalhava na Companhia Siderúrgica Nacional, como engenheiro. Eu estudava em um colégio de freiras, e tudo o que eu tinha de não-urbano ali perto era uma florestinha de eucalipto em que a gente brincava. Mas nada além, a gente não acampava, nada disso. Depois a gente se mudou para o Rio de Janeiro e eu me encantei por biologia na escola. Na verdade antes a minha ideia era fazer Letras, eu queria escrever, gostava de fazer poemas, contos, ganhava concursos na escola. E lia muito, sempre gostei muito de ler. Era em outro colégio de freiras, só de meninas. Mas no ensino médio, que na época era o clássico-científico, eu fui estudar no Santo Inácio, um colégio misto. Eu tinha muito orgulho, porque finalmente ia poder conviver em igualdade, com meninos e meninas. Fui fazer o Clássico, por causa das Letras. E eu odiei, não gostei das pessoas. Achei as meninas metidas, parecia que a turma mais burguesa, aristocrática, não me dei bem com a turma. Aí eu comecei a estudar Biologia. Tinha um professor que dava aula no clássico e também no científico, pro pessoal que ia ou para Medicina, ou para Engenharia. E eu me encantei muito pelas aulas dele, e aí resolvi mudar para o científico, estudar Biologia por causa desse professor. Cursei biologia na UFRJ, e fiz a minha formação em ecologia, ecologia vegetal.
P – E como aparece a ideia da antropologia?
Aparecida – O caminho é longo. Trabalhei como bióloga muito tempo na Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente, e depois virou INEA [Instituto Estadual do Ambiente]. No início eu trabalhava numa sede para botânica e ecologia vegetal. A gente trabalhava com a demarcação dos parques aqui no estado do Rio, viajava muito, acampava muito, ia e ficava um tempo, com excursão na floresta. Eu gostei muito dessa experiência de estar na floresta, andando no mato por dias e dias. E fiquei na FEEMA muito tempo até que eu comecei a fazer um curso de Antropologia. Eu dava aula na PUC aqui do Rio de Biogeografia e Ecologia, e na sala ao lado da minha dava aula o José Carlos de Souza Rodrigues, um antropólogo. A gente se encontrava sempre no corredor e ficava conversando nos intervalos. Na época eu estava fazendo um trabalho na praia do Aventureiro, uma reserva biológica. Me dediquei a fazer um estudo do povo do Aventureiro, que vivia ali, para garantir a manutenção deles ali. Então eu estava com um projeto que já era de antropologia, com genealogias, histórias de vida e tudo, mas sem ser antropóloga, sem ter nenhum tipo de leitura, até que o Zé Carlos Rodrigues falou: “por que você não vai fazer meu curso, na UFRJ, de Introdução à Antropologia? Você pode ter mais ferramentas para fazer esse seu trabalho”.
P – Em que ano ocorreu esta virada, o primeiro curso de Antropologia com o Rodrigues? Tu tinhas quantos anos?
Aparecida – 1983, eu tinha 25 anos. Então fiz o curso e ao final ele perguntou: “por que você não faz a prova para o mestrado no Museu, porque aí você vai ter mais ferramentas ainda?” Fiz, passei, e meu intuito era seguir estudando o povo do Aventureiro, um povo de pescadores. Até que eu fiz uma aula do Eduardo Viveiros de Castro sobre a Amazônia, povos indígenas, mais especificamente sobre as Mitológicas, do Lévi-Strauss, e eu fiquei absolutamente fascinada, e decidi que era aquilo que eu queria fazer, que eu ia entrar nesse caminho, queria ser antropóloga. Na continuidade das coisas eu pedi demissão da FEEMA e fiz mestrado e doutorado.
P – Que fantasias te ocorreram, quando jovem, quando tu pensaste em antropologia de campo? Era pra “botar a barraca no meio da aldeia”, como sugeria o Malinowski? Tinha algum medo, alguma limitação, no sentido prático? Isso conflitou com a hipótese de casamento, filhos e tal?
Aparecida – A questão de ficar dias e dias no mato não era um problema pra mim. A questão para mim foi financeira, porque eu tinha esse emprego, com um bom salário na época, eu alugava um apartamento, morava sozinha. Quando eu fui começar o mestrado em antropologia, morava em Santa Teresa, pagava minhas contas. Então a questão de mudar de profissão não foi simples por causa do emprego e da minha forma de me sustentar. Quando eu fiz o mestrado, inicialmente pedi uma licença sem vencimentos na FEEMA e tinha uma bolsa. Comecei a me sustentar com a bolsa, dividindo meu apartamento com uma amiga. Mas mantive meu emprego para voltar. Depois do meu trabalho de campo, do mestrado, quando eu estava escrevendo a tese, eu voltei pra FEEMA. E comecei o doutorado. Quando fazia os cursos eu conseguia liberação uma parte do dia, mas continuei a trabalhar. Só quando eu tive que fazer o trabalho de campo mesmo, do doutorado, já era um outro momento da minha vida. Já estava com meu filho Francisco, o mais velho, pequeninho, um ano mais ou menos. Foi uma decisão muito, muito difícil. Eu casada, meu ex-marido é fotógrafo, e ele também com uma renda muito incerta para a gente se manter. Então foi uma decisão que envolveu uma conversa com os meus pais, a possibilidade de, se a gente ficasse sem dinheiro, ter uma ajuda em algum momento. E com o Francisco pequeninho eu passei toda primeira parte do trabalho de campo muito contente. Quer dizer, ir para o mato, morar com os Wari’. Uma boa experiência, muito divertida. Lá, tinha uma espécie de posto indígena dentro da aldeia. Primeiro morei na casa da professora, depois morei num barracão. No início tinha até um banheiro fora da casa. Depois fiquei sem, mas nada disso me afetava, não era uma coisa complicada para mim, de jeito nenhum. Complicado para mim foi como eu ia me sustentar, isso sim. Fazendo o doutorado eu tinha que ficar grandes períodos em campo e tive que pedir demissão. Uma decisão muito importante pra mim. Demissão de serviço público? As pessoas falavam: “você é maluca, você tem estabilidade!”. Mas eu estava muito envolvida, eu tinha certeza que eu ia por esse caminho. Da primeira vez eu fiquei três meses no campo, e o pai dele foi nos encontrar no mês final. Tive muito mais trabalho cuidando do meu filho do que cuidando de mim. Era tudo o dobro. A minha preocupação de ter sempre comida, preocupação com o bem-estar dele, os mosquitos, a malária. Era muito cuidado, muita atenção. Felizmente deu tudo certo, ele ficou saudável, foi um sucesso, acho que pra todos, para mim, em relação aos Wari’, e pra eles, que ficaram muito felizes de eu levar o meu filho. Pro Francisco, foi uma experiência muito marcante. Depois eu levei o meu outro filho, o André, que nasceu sete anos depois.

P – Tendo feito Biologia e depois Antropologia, como foi tua a conversa com os antropólogos típicos, que vinham de ciências sociais? Que diferenças tem, na prática, vir da Biologia, um estudo orientado para um tipo de empiria e de conhecimento, de discurso científico positivo, e chegar nesse mundo das ciências humanas, das ciências do texto?
Aparecida – Realmente a forma de pensar de um biólogo e é bem diferente da de um antropólogo. Metodologia, olhar mesmo. Eu como bióloga trabalhava com floresta, eu caminhava pela floresta, identificava espécies, coletava espécies de vegetais para levar para o herbário. Para delimitar um parque, a gente tinha que ter várias espécies importantes, vegetais; a gente tinha que fazer uma mapeamento da flora para justificar a transformação daquela área em área de preservação. Então eu só tinha contato com gente local como os mateiros, que nos levavam, apontavam as espécies. Mas não era um contato de convivência muito grande. Acampava junto e tal, mas não era uma convivência intensa. E depois, na Antropologia, na verdade a gente aprende pela vivência. Não adianta só fazer pergunta, tem que viver junto. O meu olhar passou a ser para as pessoas. Quando eu comecei a trabalhar na Amazônia mesmo, como antropóloga, foi fazer um certo esforço para não olhar muito para a floresta, para a vegetação. Eu não prestava atenção. Era como se eu tivesse mesmo que mudar de um assunto para outro. E depois tive que correr atrás desse prejuízo porque, para analisar mitos como eu fiz, e para entender do que eles estavam falando sobre determinados animais e plantas, eu precisei identificar muitos deles. Depois eu fiz um grande trabalho para tentar identificar algumas espécies de plantas e de animais também. Quando eu analisava mitos, por exemplo, precisava entender por que era determinada espécie animal que aparecia nesse momento do mito. Eu identificava o passarinho, e entendia depois as características morfológicas e de habitat para poder entender por que ele estava no mito. Então eu acabei fazendo um trabalho em que a biologia foi importante para mim.
Mas eu acho que a maior diferença que eu senti quando eu entrei para estudar Antropologia, nas aulas, é que eu estava acostumada com aulas menos discursivas e mais objetivas, mais cheias de dados. Para mim isso foi uma percepção de estranheza. Eu tive que também estudar mais e ler muito mais, porque eu estava atrasada, as pessoas vinham das ciências humanas, e havia muitas leituras que eu não tinha feito. Tive que correr. Mas eu trabalhei com a antropologia tendo sempre um pouco da minha formação como bióloga. Então, enquanto alguns colegas, para analisar mito, coletam duas, três versões dele, eu coletava vinte, achava que tinha que ter amostras e coletava vinte. Fazia comparações enormes, com tabelas de comparação, que eu acho que foram úteis. Foi bom. Eu gosto de fazer isso no meu trabalho, uma coisa meticulosa, um trabalho meio de laboratório. A minha estranheza era mais na questão de método, de olhar para as pessoas. Foi disso que me encantei. A coisa da Antropologia que é de fato o maior encanto é justamente conhecer outras pessoas, conhecer outras vidas, outras histórias, de conviver intimamente, de fazer família. Essa foi a coisa mais linda que entrou na minha vida com a Antropologia.
P – Quais foram teus interlocutores importantes, tanto professores como colegas? Qual é a tua geração na Antropologia? Que horizontes se abriam para vocês?
Aparecida – Eu entrei no Museu [Nacional, que é a instituição que abriga o curso de Antropologia da UFRJ] em 1984, no mestrado. Os professores eram nomes muito sólidos na área: Gilberto Velho, Otávio Velho, Roberto DaMatta, Ligia Sigaud, Moacir Palmeira, José Sérgio Leite Lopes. Era uma equipe e tanto. Teve o Rubem César [Fernandes], que foi quem deu pra mim Teoria Antropológica I e II, meu primeiro contato com a teoria da Antropologia. Embora os anos 80 não fossem tempo de muita abundância de financiamento de pesquisas e de estudos, tudo tinha uma dimensão menor. No nosso programa de pós-graduação entravam menos alunos, o que permitia que todo mundo tivesse bolsa.
Na época, o Eduardo Viveiros de Castro já era professor do Museu, mas estava terminando o doutorado dele. Foi logo quando eu entrei, e ele estava formando uma equipe de alunos para trabalhar, para fazer campo em diversas partes da Amazônia. Era uma coisa fervilhante de ideias, de pensamentos. Eu e meus colegas, Carlos Fausto, Tânia Stolze Lima, Marcio Ferreira da Silva, Neila Soares, Marco Antônio Gonçalves são alguns que vêm à mente agora. A gente se reunia, tinha um curso que o Eduardo dava só sobre as Mitológicas, do Lévi-Strauss, na casa dele. A gente estava fazendo um projeto para a FINEP, que financiou muito tempo projetos coletivos do Museu. Este se chamava “Etnografia e modelos analíticos”, só para pesquisa na Amazônia. O Eduardo era o coordenador do projeto, e cada um escolheu seu grupo para trabalhar.
Eu escolhi os Wari’ por influência do Márcio Silva, que tinha feito uma breve viagem para lá como linguista e tinha me falado muito bem deles. Eu fiquei encantada, porque ele disse que era um povo muito tranquilo, muito sorridente, e eu queria paz na vida, para fazer uma pesquisa entre pessoas que fossem tranquilas e divertidas. A gente recebeu treinamento em linguística com a Yonne Leite, para abrir o ouvido e saber transcrever o que a gente ouvia na língua indígena. Foi um momento muito fervilhante, de muita conversa, que tinha de fato uma equipe, coordenada pelo Eduardo, trabalhando muito entrosada.
Todos nós viramos muito amigos entre nós, íamos para o campo mais ou menos no mesmo período. Saiu o financiamento da FINEP, então ela bancava nossa pesquisa de campo. A gente tinha condições boas para nos dedicarmos totalmente à pós-graduação, importante para gente, fundamental. A gente agarrou essa chance porque sabia que era incrível poder se dedicar só para isso.
Até a primeira década deste novo século, eu já como professora (entrei em 96), estávamos com bolsas financiando nossos alunos todos. Depois começou a ter cortes, cortes e cortes. Até a situação gravíssima que estamos vivendo hoje, com um visível desprezo pela ciência, particularmente pelas ciências humanas. Estamos em um momento de crise, não da produção, mas do financiamento e consequentemente da produção. Porque é preciso enviar os alunos para o campo. Fazer um campo na Amazônia tem um custo. Mas nos anos 80 e 90 não tive isso. Estava tendo todo um florescimento dessas pesquisas na Amazônia, e o Museu virou um centro importante de formação de pesquisadores e de professores que depois ocuparam outras universidades, do Brasil todo, federais e estaduais.
Mas ainda falando de meus interlocutores: na época eram os meus professores, basicamente. Um importante para mim foi o Roberto DaMatta. Ele e o Gilberto Velho foram grandes professores, no sentido de interlocução. E o Eduardo que era realmente o meu principal interlocutor, meu orientador de mestrado e doutorado. Era (e é) com quem eu discutia todas as minhas ideias. Todas. A gente partilhava a pesquisa. Toda essa pesquisa que eu fiz foi partilhada com o Eduardo e orientada por ele. Tinham também os meus colegas. Com esses meus colegas a gente também conversava muito, partilhava as ideias. O Carlos Fausto também foi um interlocutor fundamental, sempre leu as minhas coisas, deu palpite e sugestões. O Marcio Silva, a Tânia Stolze Lima, o Marcos Antônio Gonçalves. Nessa mesma época (eu ainda estudante), outros professores vinham dar aula no Museu, às vezes uma palestra. Eu conheci Manuela Carneiro da Cunha. Teve um congresso, em Belém, onde eu conheci pessoas que se tornaram inspirações muito importantes para o meu trabalho: Bruce Albert, Patrick Menget (em Belém) e aqueles que conheci logo depois: Anne-Christine Taylor, Philippe Descola e, em Cambridge, Stephen Hugh-Jones. Todos eu conheci nessa época. Depois outras interlocuções foram constituídas. Principalmente em Cambridge, que foi o lugar onde eu fiz o meu pós-doutorado em 2004. Voltei lá duas vezes como professora visitante. Na França também, que é um centro de americanistas muito importante no mundo. Mais recentemente tenho uma interlocução com os Estados Unidos, fui professora em Stanford.
P – Em que ano nasceu o Francisco? Sobre a tua preocupação de “sempre ter comida” para ele: alguma vez não teve? E pra ti, alguma vez houve fome? Como é enfrentar um jejum forçado na floresta?
Aparecida – O Francisco nasceu em 1990, em novembro. Eu tinha feito o início de pesquisa de campo em janeiro e fevereiro de 90. Aí voltei para fazer créditos e fiquei grávida. Sobre a questão da comida: não que eu tenha passado fome séria nos Wari’. Eu não passei fome a sério. Eu sempre levava arroz, lentilha. Às vezes eu ficava com fome de não ter nenhum peixe, nenhuma caça. Então eu ficava dias e dias comendo arroz. Chegava um ponto em que não podia gastar todo ele, então eu tinha um certo controle. Muitas vezes as pessoas iam na minha casa e comiam também. Então tinha um certo controle da quantidade, e eu sentia alguma fome. Às vezes aparecia alguma caça. Eu ganhava um pedaço e isso ajudava. Ficava dois ou três dias comendo aquele pedaço. Não tive aquela fome aguda, mas eu sempre tinha uma certa fome, uma fome meio crônica, e uma insegurança. Porque às vezes não tinha peixe, então a gente comia, por exemplo, pamonha. E com o Francisco eu ficava muito preocupada em ter comida sempre, eu estava sempre batalhando por comida, sabe? Sozinha, eu ia na casa de alguém quando eu via chegar uma caça, igual às outras pessoas. Fica todo mundo olhando a caça: as mulheres, as crianças. Os homens não vão, mas ficam meio em volta, como quem não quer nada. Até que o caçador dá um pedacinho para cada um. Eu comecei a fazer isso, quando sabia. Quando alguém tinha peixe, eu muitas vezes trocava por alguma coisa, às vezes anzóis. Tudo que eu podia para garantir comida para o Francisco, que ficou bem saudável, em termos de comida. Mas ele teve infecção urinária, muita diarréia, coisas que me preocuparam muito, mas comeu bem.
P – Tu falaste um pouco da escolha dos Wari’, que tinha já um depoimento de um linguista. Como foi chegar lá, fisicamente? Não lembro se tem isso no teu livro do Paletó, tem? E tu te lembras do primeiro impacto da chegada? Tu chegando como quem vai morar um tempo lá…
Aparecida – Foi em setembro, outubro de 86. Eu tive que deixar o meu apartamento. Na época eu tinha um namorado que também deixei, mas continuei namorando. Depois ele virou o pai do meu filho mais velho. Deixei tudo e saí cheia de malas para morar na Amazônia. Era uma mudança de vida, uma coisa impactante. Outro lugar e tudo. Cheguei lá e tive uma experiência muito ruim com Porto Velho, que na época me pareceu uma cidade de oeste de filme americano, com ruas de terra. Eu cheguei, meio à noite, fiquei um pouco assustada e pensei: se a capital é assim, imagina o resto. Uma noite complicada para eu dormir pensando nisso.
Mas no dia seguinte mudou. Na época ainda tinha avião para Guajará (agora não tem mais). E tinha uma antropóloga, a Beth Conklin — que depois virou muito minha amiga e minha comadre – ela é madrinha do Francisco e eu sou madrinha do Alan, filho dela –, ela tinha uma casa em Guajará e eu já estava fazendo pesquisa com os Wari’. Fiz contato com ela por carta. Cheguei de avião e fui para a casa dela. O melhor lugar que eu poderia chegar! Uma casinha, de madeira, muito simples, num bairro muito simples. Mas com rede, ar hippie, que combinava comigo. Eu e a Beth, a gente imediatamente se conectou, a gente se entendeu. Então foi muito bom. Ela foi comigo na minha primeira viagem, porque trabalhava numa aldeia rio abaixo. Era a duas horas de diferença da minha. Fomos no mesmo barco. Ela parou na aldeia dela, deixou as coisas e foi comigo. Me acompanhou, foi super-generosa. Ela conhecia algumas pessoas na minha aldeia, Rio Negro Ocaia.
Eu queria ir para aldeia mais longe, escolhi a aldeia mais distante. Porque eu queria uma aldeia mais preservada, eu tinha essa ideia. A gente percorreu a aldeia e ela me apresentou para várias pessoas. Eu não falava nada, evidentemente. E foi uma ronda. À noite nós dormimos na casa da professora, uma casa de alvenaria que tinha banheiro do lado de fora. Um lugar bem confortável, onde eu vivi depois por alguns meses.
No dia seguinte a Beth foi embora, então eu tive uma sensação de aperto no coração, de de repente olhar para os lados e me sentir muito sozinha. Ainda tinha a professora lá e um chefe de posto também, não-indígena. Senti aquela sensação de: meu deus, agora é comigo, agora eu estou aqui. Eu não falava a língua. Então comecei a andar devagarinho pelas casas. Me apresentava, dizia que estava lá para aprender a língua. Era, de fato, o que eu queria: antes de tudo aprender a língua para trabalhar na língua nativa. Foi aquela sensação de ver, aquela coisa daquele relato do Malinowski, quando ele chega no campo: de repente você vê o barquinho indo embora, ficando longe, e você fica lá no lugar.
Mas os Wari’ sempre foram muito gentis comigo, se aproximaram de mim com muita gentileza, e simpáticos, rindo, fazendo brincadeiras. Eu muito jovem, com toda a disposição para esse desconhecido, para as questões materiais. Dormir em esteira no chão, tudo isso não me incomodava em nada na época. Então era bem divertido. Claro, no começo me sentia muito sozinha de não poder partilhar, de não poder conversar muito. Mas eu me divertia com aquela novidade. Era incrível, e eu estava com muita vontade de trabalhar, de aprender os nomes, aprender a língua. Eu estava com muita energia, então foi assim a minha chegada.
P – Sobre a língua: a língua Wari’ já estava descrita? O aprendizado da língua: tu chegaste a ficar fluente na língua, de poder conversar com quem não falava o português? Aparecida – A língua não tinha sido descrita naquele momento. Mais tarde — dez anos depois —, saiu uma gramática da língua Wari’ feita por dois missionários que trabalham com os Wari’. Mas aí eu já tinha tido um outro tipo de iniciação na língua. Eu fui treinada para aprender a ouvir os sons, os fonemas, diferenciar os fonemas um do outro, e saber grafar aquele fonema. Então eu conseguia ouvir e escrever o que eu ouvia. Os missionários da Missão Novas Tribos no Brasil que já viviam lá há muito tempo – inclusive havia missionários quando eu cheguei –, eles tinham cartilhas, que usavam para dar aulas de alfabetização na escola, mas eu nunca tive acesso a elas. Nunca disponibilizaram. Eles tinham também um pequeno dicionário, mas não davam acesso a ele.
Eu aprendi como uma criança. Ele repetia e eu apontava. Tinha alguns rapazes lá, um desses é o Abrão, que veio a se tornar meu irmão — filho do Paletó —, que falava um português razoável na época, e que me ajudava muito nas traduções [entre o português e o Wari’]. Às vezes as pessoas falavam alguma coisa, eu gravava. Muitas vezes eu gravava o que as pessoas falavam e ia com o Abrão ouvindo cada pedacinho, e ele me falando em português. Até que chegou o momento em que eu sabia mais. Então eu gravava e a gente transcrevia, escrevia as palavras em Wari’ e não traduzia. Ou traduzia depois. Mas eu tinha que estar com tudo escrito. A gravação foi muito importante.
Eu anotava tudo, sempre andei com um caderninho. Eu não fazia meu diário de campo como muitas pessoas fazem, à noite. Tudo que eu ouvia, escrevia. Eles até se acostumaram a me ver anotando, anotando, anotando. Mesmo quando estavam falando. Até chegar um ponto em falavam comigo e eu não anotava mais. Então eles falavam: “Mas você não está gostando do que a gente está conversando?”, faziam brincadeira. É claro que tinha horas que eu estava deitada relaxando, catando piolho, e não estava escrevendo, mas muitas vezes eu estava com o caderninho. Aprendi como falava “como é seu nome?” e escrevia. Aprendia como falava “estou com fome”, “cheguei”, “estou indo embora”, e tudo isso eu escrevia. Depois, com aquele caderno na mão de novo, eu chegava numa casa e me aplicava. Lia e falava: “como é seu nome?”. Então as pessoas aos pouquinhos iam vendo o quanto eu ia sabendo, ia aprendendo. Começavam a falar comigo mais um pouco.
Eles sempre ficavam avaliando o quanto eu sabia, o quanto eu estava entendendo. Mas eu sempre trabalhei só em Wari’, eu nunca trabalhei em português. A não ser com os tradutores que me ajudavam, o Abrão principalmente. Mas sempre conversei em Wari’ com eles, mesmo meu Wari’ era precário. Mesmo que eu gravasse e fosse entender depois e voltasse àquela pessoa para perguntar alguma coisa. E até hoje, quando tem muito mais gente que fala muito bem português, os mais jovens, ninguém fala comigo em português, mesmo no telefone. Eles me ligam (os jovens que hoje falam muito português) e, quando falam comigo, falam Wari’. Então eles entenderam que a minha chave era essa: falar Wari’. Até os mais velhos, no começo, quando um algum rapaz ou moça ia falar em português comigo, falavam: “não, não, não, ela só pode falar Wari’”.
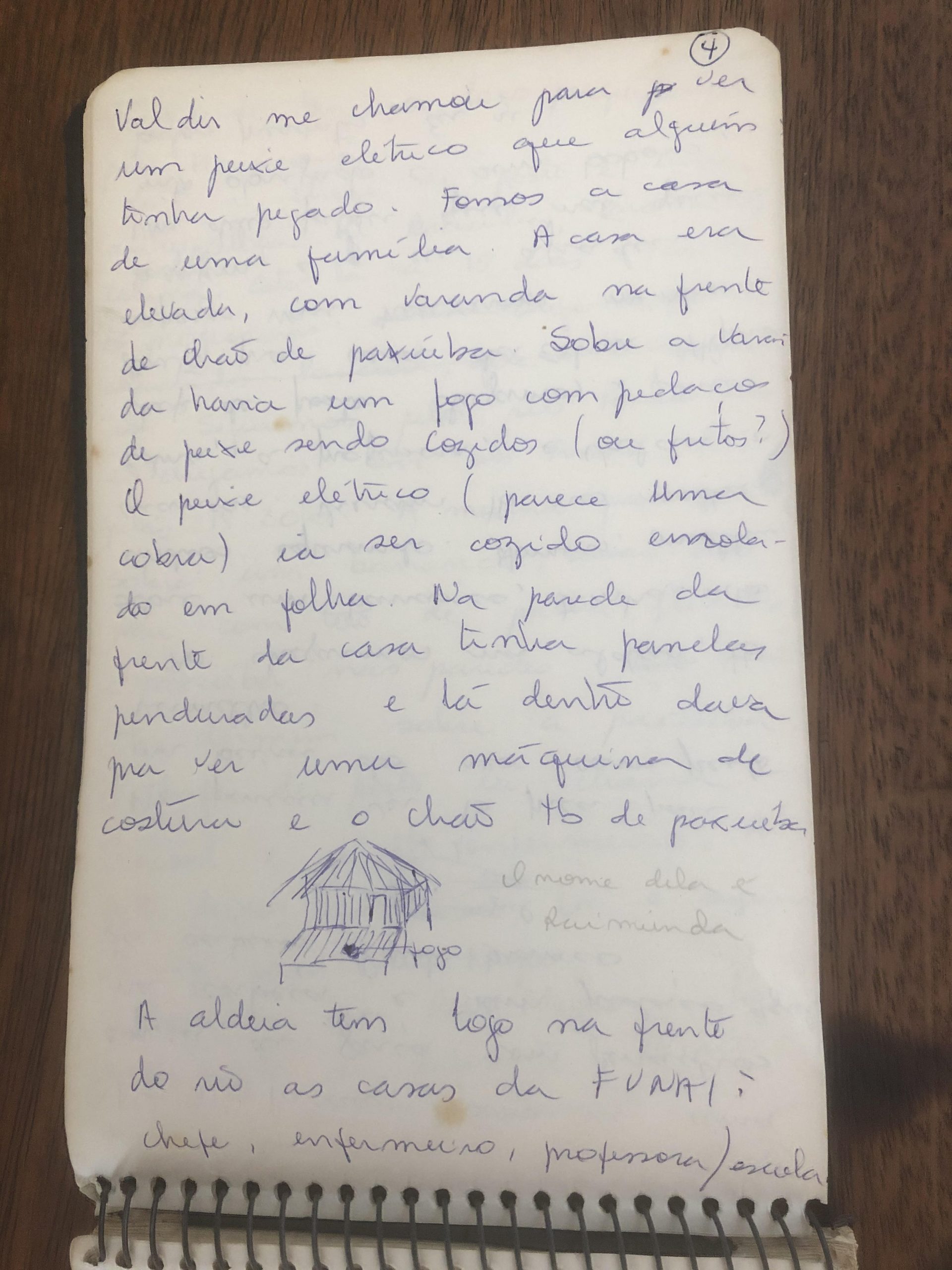
P – Conta alguma coisa da língua. Eles tinham um vocabulário muito especializado para determinada coisa, ao contrário do português, por exemplo?
Aparecida – Não é uma língua tonal, no sentido que faz diferença falar muDAR e MUdar [então as diferenças]. É que as línguas tonais são muito, muito complicadas de aprender. Ao menos para mim, que não tenho um ouvido bom para os sons. Depois de três meses conseguia me comunicar. Não era fluente, de jeito nenhum, mas eu conseguia falar em Wari’ o que eu estava querendo. Entendia pelo menos o tema do que eles estavam falando. Depois com o tempo, outras temporadas lá, eu voltava e cada vez ficava mais fluente, com mais facilidade de compreender. Mas cada vez que eu chego lá eu demoro mais ou menos uma semana para engatar de novo. Porque para mim é essencialmente uma língua oral. Tenho que ouvir. Nunca fiz um curso, com gramática e tal. Eu li parte da gramática, mas quando tive acesso a ela eu já falava. Então hoje podem falar livremente que eu entendo. Posso ouvir uma narrativa de um velho e entendo.
É uma língua relativamente fácil para um falante de português pronunciado, do meu ponto de vista. Uma língua com as complexidades das línguas como são, né, com seus tempos verbais, seus pronomes, verbos, advérbios, masculinos, femininos, plural, singular. Eu fui aprendendo. Tem a questão da numeração. Isso foi uma coisa que só foi me chamar atenção recentemente — o fato de os Wari’ não terem números, não terem palavras para números. É uma coisa comum entre vários grupos amazônicos, mas eu não sabia. Os Wari’ só têm um termo para “sozinho” e para “par”. Depois não tem mais nenhum termo. Quer dizer: tem “pouco” e “muito”. Mas não tem termos para os números, o que é uma questão interessante. Eu tenho estudado e pensado sobre esse assunto.
P – E a última é tu como professora: como tem sido isso? Como é ser orientadora em antropologia? Tu acompanhaste a construção da teoria do perspectivismo ameríndio? Agora, imagino que vocês estejam vivendo na antropologia amazônica um outro momento.
Aparecida – Eu orientei muitos alunos de mestrado e doutorado e continuo a orientar. Eu gosto muito de dar aula, da minha relação com os alunos, desse contato direto, da conversa, de conhecê-los mais, de introduzi-los nesse mundo da Amazônia. A gente não vai para campo com eles. A gente prepara com os textos e com as dicas de falar da minha experiência de como foi o campo e tudo. E eles seguem, vão para campo. E quando conseguem uma comunicação — um e-mail, um telefone –, geralmente eles telefonam. Às vezes quando se está com um problema, especialmente um problema político, eles ligam. Um aluno meu que estava sendo perseguido, no Pará, com medo de madeireiros, precisava tomar uma decisão. Como deve fazer? Se permanece, para onde vai? Segurança e tudo isso. Então a gente acaba envolvido em várias questões, não só as questões acadêmicas, intelectuais, mas questões também pessoais. E depois tem a escrita da tese, sempre um parto muito intenso, muito difícil, um processo bem duro, que a gente tem que acompanhar.
Sobre essa questão do perspectivismo, eu fui parte do nascimento disso com o Eduardo Viveiros de Castro. A Tânia tinha acabado de defender a tese dela de doutorado, acho que em 1995 ela e eu em 1996. E a Tânia levantava na tese essa questão de que o que a gente estava vendo ali, nessas sociedades, não era propriamente relativismo. Tinha alguma coisa um pouco diferente, que tinha a ver com uma certa… Não tinha o universalismo que acompanhava o nosso relativismo. Não tinha essa ideia de um mundo único. O Eduardo, essa era uma questão em que ele estava pensando também. Então começou uma discussão sobre, afinal, o que a gente tinha ali.
Eu tinha já minha tese de mestrado pronta e estava escrevendo minha tese de doutorado nessa época, Eduardo me orientando também, a gente conversava muito. A minha tese de mestrado e doutorado também ajudaram na composição dessa conversa sobre o que era aquilo que estava acontecendo, que virou o perspectivismo. Então teve uma reunião que Eduardo nos chamou — eu e Tânia — para conversarmos, e a proposta dele era que a gente escrevesse um paper, um artigo sobre isso, juntos. Eu disse que não ia ter condições de parar a escrita da tese porque eu já estava no meu sexto ano. Era o último ano e eu não poderia parar. Isso foi em 1996 — ano em que foi publicado o perspectivismo.
Tânia e ele decidiram que os dois iriam escrever artigos independentes. Os dois publicaram juntos, no mesmo número da revista Mana, em 1996, o Eduardo fazendo uma teoria mais geral do perspectivismo e a Tânia mais centrada nos Juruna, com quem ela trabalhava. No artigo de 96 Eduardo fala da importância do trabalho da Tânia e do meu trabalho com os Wari’ para essa configuração da ideia que já vinha sendo parte das reflexões dele também.
P – A referência para a tua geração ainda era, sei lá, Lévi-Strauss, por exemplo. Talvez ele fosse o cara mais significativo. Hoje é Lévi-Strauss e perspectivismo ameríndio. Como é que é isso, de ser orientadora nesse novo mundo?
Aparecida – Sim, o Levi Strauss foi e é, para mim, até hoje, a principal inspiração. Quando tem alguma questão nova, quando devo escrever sobre ela ou quero pensar, meu primeiro autor é o Lévi-Strauss. Eu sempre encontro alguma coisa na obra dele que me inspira muito. Agora, por exemplo, com essa coisa do coronavírus e os índios: eu encontro no Antropologia Estrutural II um artigo do Lévi-Strauss um capítulo chamado “A arte em 1985”, onde ele vai falar da colonização viral, que é a que captura, que pega a identidade do hospedeiro, em relação com o processo colonizador do ocidente. Então é sempre muito inspirador para mim. Continua sendo uma referência muito importante para os meus alunos.
E o perspectivismo? Desde que surge, em 1996, ele vira uma referência inescapável, no sentido de que não é possível falar da Amazônia sem ter em mente o perspectivismo ou sem considerar e discutir com o perspectivismo. Virou uma teoria, um conceito que que tem gerado reflexões em diversas outras áreas etnográficas, como a Melanésia (Oceania), a Ásia no geral, América do Norte. Tem sido um conceito muito produtivo, e coloca a etnologia amazônica no centro da antropologia mundial. De uma forma que talvez não tenha acontecido antes.
A obra de Lévi-Strauss, As Mitológicas, traz também a antropologia amazônica e das Américas para o centro do debate. Mas o perspectivismo vem como se fosse um conceito condensado, uma ideia brilhante que revela toda outra ontologia, absolutamente distinta da nossa, do nosso naturalismo. E oposta, de algum modo, que permite uma visão de um mundo completamente diferente, de fato. Quando surge o perspectivismo estava tendo um reavivamento da noção de animismo, e o perspectivismo é um correlato, é uma complexificação da noção de animismo. Já estava havendo uma discussão do Philipe Descola com o Eduardo Viveiros de Castro sobre essa questão do animismo. O perspectivismo sai de uma discussão que já estava acontecendo, e com trabalhos etnográficos dos orientandos do Eduardo e dele mesmo, com os Araweté, que é toda a relação entre os deuses e os humanos, uma relação totalmente condizente com o perspectivismo, assim como entre os Wari’ é a relação entre humanos e animais, também claramente perspectivista. Então evidentemente que meus alunos leem sobre isso, pensam sobre isso. Mas tem outros autores importantes. E principalmente para questão de mudança social, que é um tema que eu comecei a trabalhar desde o doutorado e trabalho até hoje. Marshall Sahlins foi um autor crucial para mim, suas obras sobre mudança social, transformações, vários trabalhos mais históricos. E depois para mim e para os meus alunos também, já que muitos trabalharam com a cristianização de indígenas. Na questão da cristianização, uma referência central foi Joel Robbins, professor de Cambridge. Outra referência importante, no Museu como um todo e para etnologia, é a Marilyn Strathern, também de Cambridge. Também Roy Wagner, que escreveu a Invenção da Cultura e vários outros livros, se tornou uma referência muito importante para gente no sentido de trabalho mesmo. E vários outros americanistas, claro, como: Stephen Hugh-Jones, a Manuela Carneiro da Cunha, Joanna Overing, Peter Gall.











