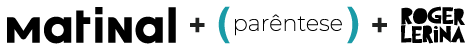Celina Alcântara: Uma mulher de axé — Parte I

Licença pra chegar! A bênção das minhas mais velhas! Agradecemos a todos que vieram antes de nós e que, como Exu, abriram nossos caminhos — caminhos que ainda são tortuosos, que ainda não são fáceis. Mas desde a diáspora que alguns de nós contrariam as estatísticas e impõem sua presença, sua voz; e ressalto “voz”, porque Celina Alcântara tem uma voz característica e linda; é professora da disciplina de voz, entre muitas outras. Celina se faz ouvir. Impõe seu corpo e sua voz. E abriu caminho como a primeira em muitos espaços por onde passou. Foi minha primeira professora negra, lá na graduação; é a única professora negra da pós-graduação em Artes Cênicas da UFRGS; foi a primeira mulher negra a concluir o curso de Artes Cênicas nessa mesma instituição. É, ainda, doutora em Educação, além, é claro, de minha mentora e amiga. Esta entrevista foi respondida por áudio, e eu lamento por vocês, leitores, que poderão lê-la, mas não ouvi-la. Que este registro faça com que aqueles de vocês que ainda não conhecem Celina Alcântara busquem conhecer essa potência em forma de mulher.
Parêntese – Celina, queria que tu contasse um pouco sobre a tua origem, infância, onde tu cresceu, tua constituição familiar. Acho interessante saber um pouco sobre esse momento da vida das pessoas, porque acho que ele influencia direta ou indiretamente nas escolhas que tomamos nos anos seguintes. E como surgiu a ideia de fazer teatro e de trabalhar também com educação?
Celina Alcântara – Eu sou de uma família de um casal, pai e mãe, e oito filhos. Quer dizer, a gente chegou a ser oito filhos por um ano — meu irmão mais novo faleceu quando tinha um aninho —, então na maioria do tempo fomos sete filhos. São seis homens e eu, a única mulher. A gente viveu onde ainda hoje vivem meus pais e quatro dos meus irmãos, na zona sul de Porto Alegre, no bairro Tristeza. Quer dizer, quando nós éramos crianças era chamado Tristeza, era parte da Tristeza; mas depois fundou um outro bairro, chamado Camaquã. Um bairro de pessoas pobres, trabalhadores, enfim. Não é uma comunidade, mas não é classe média. Na verdade é um bairro que tem um pouco de tudo, mas nem sempre foi assim. É importante, pra entender esse espaço onde eu cresci, entender uma coisa anterior em relação à família: meus familiares por parte de mãe vêm do interior, vêm do Alegrete, mas meus familiares por parte de pai moravam na Cidade Baixa, na Travessa do Carmo, mais precisamente. E na década de 40, final da década de 40 sobretudo, se deram conta dessa retirada das famílias negras desse espaço. Inclusive porque eram famílias que pagavam aluguel; não eram donos, não eram proprietários de onde eles viviam.
Então meus avós, meus tios, tias-avós, eles fizeram esse movimento que é tentar comprar um terreno num lugar que, naquela época, era realmente muito distante da cidade, muito distante de Porto Alegre — era praticamente uma chácara. Dez anos depois, as pessoas que ainda restavam foram enviadas pra um lugar ainda mais distante, que foi a Restinga. E eles conseguiram comprar a partir de fazerem economia. Tem uma história na família que a gente não sabe direito, que meu avô parece que tinha o hábito de apostar em algum jogo, e consegue ganhar um dinheiro e aí pega esse dinheiro e dá entrada num terreno, pensando nesse futuro, nas futuras gerações, que as futuras gerações tivessem um lugar que fosse seu e que não corressem o risco de serem expulsas. Então esse terreno que eu cresci na zona sul é remanescente desse movimento, ele foi adquirido por uma irmã da minha avó, uma tia-avó, que na família é conhecia como a tia Joaninha, que era uma mulher de axé. Esse terreno foi espaço de terreiro, e conta-se que essa tia era conhecida aí, no espaço do religioso, no espaço do axé, da religiosidade afro-brasileira, que pessoas iam até ela para receber o seu axé, enfim, as suas instruções. E ela não teve filhos, não se casou. Então quando ela faleceu, minha avó, mãe do meu pai, terminou de pagar o terreno que essa tia estava pagando e quando meu pai se casou, minha avó falou: “Bom, tu vais morar lá com tua família, porque eu quero que meus netos tenham lugar onde crescer”. Eu cresci nesse lugar, nesse terreno, no bairro Camaquã; é um terreno de 50 metros de profundidade por 10 de largura.
A casa sempre foi do jeito que ainda é, lá no fim do terreno. Antes era uma de madeira, que depois foi se deteriorando, e aí no início da década de 80 meu pai ergueu a atual casa de alvenaria onde eles vivem até hoje. Acho que é importante falar disso, porque não só conta daquilo que eu fui quando criança, mas de todas as experiências que eu tive de viver num espaço que tinha lá as suas precariedades — a gente demorou a ter luz elétrica, porque não tinha no terreno; a gente demorou a ter esgoto. Então esse lugar de herança da família era um lugar onde eu e meus irmãos crescemos, brincando ao ar livre, correndo, tendo bichos, que a gente pegava e levava pra casa. Tinha toda uma relação ali que se construía também com outros amigos e amigas, que iam na casa brincar com a gente, porque tinha espaço no terreno. Ao mesmo tempo a minha mãe era uma pessoa que se virava trabalhando fora e cuidando de sete crianças.
Esse também era um espaço de comunicação ampla, então cresci falando alto, gritando, chamando, ouvindo minha mãe nos chamar. Então esse lugar da vocalidade, da voz, de uma voz que se projeta, sempre foi uma experiência de família. Da sorte de que todos na família têm uma voz bem projetada, alta, e esse hábito de falar forte, que depois, só muito mais tarde, quando eu entro na universidade, eu me dou conta que esse é um cultivo que fazia parte do meu cultivo familiar e que vai me ajudar no teatro. Os meus pais são trabalhadores de serviços pouco remunerados e subalternos; minha mãe foi sempre auxiliar de serviços gerais, e fazia faxina também na casa de outras pessoas que a contratavam — quando eu era pequena, eu ajudava, eu ia junto com ela e fazia essas faxinas. Meu pai foi metalúrgico a vida inteira. Hoje eles são aposentados. Minha mãe é iletrada; ela aprendeu apenas a escrever o seu nome, e foi uma habilidade que ela perdeu quando teve um AVC, há mais ou menos 25 anos atrás, e meu pai estudou o 3º ano do ensino fundamental, ou 3º ano do primário, como ele costumava dizer, que era como era nomeado quando ele fez.
Outra coisa importante que tem a ver com este momento é que, primeiro de tudo, meus pais sempre estiveram presentes. Uma questão muito comum de se ver nas famílias negras é uma percepção da importância do estudar, do ter o que se chama ter estudo, que é fazer a escola formal, ter essa formação. Então a gente sempre foi cobrado nesse sentido. Eu brinco que a gente podia cometer a pior das coisas, sei lá! Podia cometer o erro que a gente quisesse, mas nada era pior do que rodar; nada era pior do que perder o ano, ir mal na escola. Essa realmente era a pior das falhas que a gente podia cometer. Então tinha uma ideia, uma percepção da importância disso, que as novas gerações pudessem acessar coisas que eles não puderam acessar, e que a educação formal é uma maneira de fazer isso. Então eu estudei, desde o jardim, um jardim precário perto de casa, onde minha mãe deixava a mim e meu irmão mais velho, que somos os primeiros, pra ela poder trabalhar. À medida que eu fui crescendo e fiquei responsável pelos mais novos, essa dinâmica já mudou um pouco. Então isso foi importante.
Outra coisa importante na minha formação inicial foi essa vontade, ou essa capacidade de sonhar, que é um pouco o legado dos meus mais velhos e mais velhas, desde os avós que sonharam que a gente tivesse um lugar para morar e viver, mas também dos meus pais, que sonharam que a gente tivesse uma vida melhor que a deles. E eu me lembro que isso era uma coisa forte pra mim, que eu me colocava, a partir da imaginação, em outros lugares. Eu me projetava em outros lugares, eu me projetava de outras maneiras, tendo, participando, sendo coisas que a princípio não eram coisas do meu cotidiano. A minha imaginação, o cultivo da imaginação me levava para outros lugares. E eu acho que essas duas coisas foram fundamentais para a minha carreira de atriz, de artista, pras minhas escolhas posteriores. Dentro dessa ideia de uma formação de um ensino formal e da importância, eu, como era a única mulher, a menina da casa, a minha mãe batalhou para que eu estudasse os anos finais do ensino fundamental e o ensino médio numa escola particular, então ela conseguiu uma bolsa integral pra que eu estudasse nessa escola. E ela conseguiu também porque um dos sonhos dela era que eu fosse professora, então nessa escola eu fiz magistério. Eu fiz essa formação, que nem sei se ainda existe, mas em nível de ensino médio, que forma professores para darem conta da alfabetização, dos primeiros anos do ensino fundamental, que na época da minha formação a gente chamava de currículo por atividades, que é de 1ª a 4ª série. Então a minha relação também com a educação e com a pedagogia, com o ato de ser professora, começa nesse lugar aí, que é de ser uma professora, de ter uma formação para ser professora do ensino fundamental.
P – Falando sobre as questões raciais. Eu te conheci e tive aulas contigo na graduação em 2004. Inclusive, tu foi a primeira professora negra que eu tive na minha formação. Digo isso porque ser negra e ocupar determinados espaços de certa forma já é tratar sobre negritude e representatividade. Essas questões sempre tiveram presentes no teu trabalho de professora e atriz de forma mais assumida? Ou foram se tornando mais acentuadas a partir de um determinado tempo? Se for esse o caso, teve algum acontecimento específico que fez com que essas questões assumissem mais importância no teu trabalho?
CA – Em relação às questões raciais e à minha trajetória: eu acho que desde o primeiro momento esteve presente. Eu me lembro ainda — inclusive pensando nessa minha formação de professora, e minha única experiência que eu tive como professora de criança, nessa relação com o ensino fundamental —que era muito forte essa questão da representatividade, sobretudo para as crianças. Porque as crianças, infelizmente as crianças negras, a gente é subjetividade por uma ideia de ser negro, de negritude, de desmerecimento, desde muito pequenos. Então eu me lembro das crianças serem agressivas e desmerecedoras com os seus colegas negros, mas não comigo. É como se eu estivesse em outro patamar. E ao mesmo tempo eu não tinha vocabulário ou conhecimento para tecer uma discussão. Mas eu procurava não passar batido por isso, procurava ver com as crianças, trazer histórias pra gente tentar pensar essas coisas de relação, de violência uns com os outros. Não estava presente como está hoje esse sentido de relações étnico-raciais, e todo esses conceitos e ideias e todo um letramento que hoje eu tenho, mas tinha uma percepção já dessa questão.
Eu trabalho desde os meus doze anos de idade, de diferentes maneiras, a maior parte do tempo eu trabalhei como babá mesmo, mas eu cheguei a dar aula, porque, com essa formação de magistério, eu dava aula particular e trabalhei em creche, como auxiliar. Então quando eu entrei na universidade eu precisava continuar trabalhando. Não tinha como só estudar. Desde os meus doze anos, eu ainda era criança, eu lembro que em alguma medida eu tinha que ajudar nesse arranjo econômico da casa mesmo. Então desde muito cedo eu comecei a tecer as minhas possibilidades de ganhar algum dinheiro. Eu entrei pra faculdade e tinha também essa possibilidade comigo que era a relação com dar aulas, com o pedagógico.
Então eu já comecei a trabalhar, inclusive com as coisas teatrais. Eu comecei a aprender e já a passar para outros. Pela minha necessidade de trabalho e por uma coerência com uma formação que eu tive. Então eu trabalhei com um projeto do hospital psiquiátrico São Pedro, que na época que eu entrei na faculdade estava começando essa abertura para a compreensão das pessoas que estão lá dentro, que foram jogadas lá dentro, que foram largadas lá dentro, abandonadas lá dentro. Da abertura desse espaço como um lugar estigmatizado, de pensar, de repensar isso e de revivenciar isso a partir de projetos e da entrada de determinadas pessoas, grupos e proposições lá dentro. Eu participei logo no início disso como monitoria, ganhando uma bolsa-trabalho. Eu trabalhava lá junto com outro colega, a gente dava oficina de teatro. Então essas questões me acompanhavam, embora não fossem tão presentes como elas são hoje. Eu trabalhei também na Lomba do Pinheiro, num projeto social onde eu trabalhava com crianças no contraturno, também propondo experiências de teatro, dentro daquilo que eu sabia, daquilo que eu podia articular dentro do parco conhecimento que eu tinha. Mas tinha uma vontade de estar e de propor coisas a partir desse lugar da relação com o teatro.
Aliás, eu acho que é importante falar também que é uma coisa que eu não comentei naquele momento introdutório, mas que é parte da minha formação: essa vontade de fazer teatro eu reporto a essas minhas experiências, sobretudo naquilo que eu falo de imaginar outros mundos, outros modos de ser pra mim, acho que isso foi um pouco fundante para querer fazer teatro, pra querer ser atriz. Mas eu tive muito poucas, pra não dizer nenhuma, experiências de fazer isso. Antes, quando eu era pequena, jovem, eu tinha uma relação muito forte com a igreja católica; meus pais, minha mãe sobretudo é uma pessoa católica, e ela nos levou, a filha e os filhos, pra essa formação. Então eu tinha uma pequena experiência dessas coisas de grupo de jovens da igreja, que se reúnem, e aí fazem lá uma apresentação, uma organização nas datas, na páscoa, no natal. Mas a lembrança que eu tenho disso era sempre de uma vontade de querer estar, mas de estar sempre muito apartada, ficava lá no fundo, como se diz, fazendo número. Mas nunca tinha, naturalmente, um papel importante, enfim, não conseguia mesmo me experimentar mesmo nesse espaço, que eu intuía que era um espaço que eu queria estar.
Quando eu fui pra escola particular eu tive uma experiência, que me deu um pouco mais de vontade, de perspectiva em relação ao teatro. Eu tinha uma professora de literatura que certa vez propôs um trabalho. Ela pegou vários textos, separou a turma em grupos e propôs que cada grupo apresentasse aqueles textos de literatura da forma como quisesse. Aí o meu grupo ficou com um monólogo, que se chama “Aparição”, de um autor chamado Virgílio Ferreira — eu até hoje sei o monólogo, eu sei as falas de cor, porque eu memorizei todas as falas, não apenas as minhas. E eu propus, junto como grupo, que aceitou e quis, que a gente fizesse um espetáculo, uma cena teatral, um teatro, como as pessoas costumam dizer. E aí a gente criou uma narrativa teatral para apresentar esse trabalho. E a partir disso, em vários momentos eu usei esse texto, quando tinha algo na escola, enfim. Eu apresentei esse texto, de tal sorte que eu criei uma imagem para as pessoas, e hoje as pessoas falam que naquele momento eu já mostrava aquilo que eu sou hoje. Mas eu criei essa imagem da pessoa que gosta, que tem um certo saber em relação a isso, que é fazer teatro. Então essa foi a minha experiência.
Então eu entro na faculdade sem conhecimento nenhum, de nada, achando que fazer teatro era isso que eu tinha feito, reunir umas pessoas, pegar um texto, separar, dar uma parte pra cada um, decorar, memorizar, a gente decide o que cada um vai fazer e apresenta, era isso. Mas eu trago isso, essas reminiscências, e aí a coisa está um pouco randômica aqui [risos], pra evidenciar como essas coisas foram me pautando, e foram me pautando junto com a experiência de ser uma mulher negra em espaços de branquitude, em espaços de pessoas brancas. Porque as escolas, especialmente a escola particular, era isso, era um espaço onde eu era a única, era a exceção, essa exceção que hoje a gente fala muito e comprova a regra. Então eu tinha presente pra mim essa condição de negra e eu tinha comigo essa necessidade de falar sobre, de mexer nisso, mas eu não tinha a compreensão que eu tenho hoje.
Então quando eu chego na faculdade de teatro, por exemplo, me dou conta que eu não podia fazer determinados papéis. Isso é uma outra coisa que eu conto. Eu, embora fosse uma adolescente, saída do ensino médio, eu não podia fazer Julieta, eu não podia fazer, em geral, os papéis de protagonismo. Porque, quando eu entro na universidade, lá no início dos anos 90, a lógica do teatro ainda era bastante fundada numa ideia de verossimilhança, de verdade e semelhança, com aquilo que se considerava a realidade. Então não era coerente que eu, negra, fizesse determinados papéis. Ao mesmo tempo eu compreendi isso, que os papéis que estavam determinados para mim eram de prostituta, de escrava, enfim, eram subalternos.
Aí o movimento que eu faço dentro da universidade, de me unir com determinadas pessoas, de fazer determinados trabalhos e optar por fazer determinados trabalhos e outros não, é o meu movimento de resistir e pautar as questões que eu considerava importantes, e que estavam, sim, relacionadas ao fato de eu ser uma pessoa negra e de ter essas relações chamadas étnico-raciais. Então eu acho que as relações étnico-raciais estão pautadas no meu trabalho desde um lugar que me parece que é mais do indivíduo, num primeiro momento, da Celina atriz, e à medida que eu adentro os ambientes acadêmicos, a UERGS, mas especialmente a UFRGS, isso se torna uma questão para além do indivíduo. Porque na UERGS de fato essa não era uma questão que estava ali dada nas discussões, mas ao mesmo tempo eu sempre busquei, intuitivamente, mas de novo, eu acho que tem a ver com essa caminhada, trazer referências negras, afro, seja na ideia de cantar, seja nas músicas que eu buscava tematizar também, muitas vezes, seja nas minhas práticas artísticas. Então eu acho que as relações étnico-raciais vêm se construindo em mim de tal forma que quando eu alcanço as discussões, as teorizações, e os autores e autoras que se debruçaram sobre isso, ela entra num contínuo que já vinha sendo construído, mesmo que não fosse de maneira consciente em relação a essa temática.
P – Quais trabalhos artísticos mais te marcaram e por quê?
[Continua...]