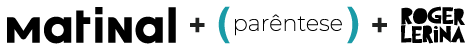Charles “Chuck” Martin – O específico não é uma ofensa
 Charles “Chuck” Martin com sua câmera (detalhe)
Charles “Chuck” Martin com sua câmera (detalhe)Quem me falou do nosso entrevistado de hoje foi a Roberta Flores Pedroso. Ela tinha já me passado cópia de um texto dele apresentando uma das edições do romance Úrsula, de Maria Firmina dos Reis (1988). Se o prezado leitor não conhece esta obra, não se avexe: mal agora esse caso singularíssimo da cultura brasileira está circulando de verdade.
Publicado pela primeira em 1859, em São Luís do Maranhão, com praticamente nenhuma repercussão relevante, só veio a ser reeditado em 1975, quase cento e vinte anos depois. Faça as contas: o romance de Maria Firmina saiu quase trinta anos antes de serem revogadas as leis que permitiam que um ser humano fosse dono de outro ser humano. Ser dono, mandar em sua vida cotidiana, obrigá-lo a fazer ou a desfazer, a prestar serviços de toda ordem: o corpo do escravizado pertencia ao seu dono. Firmina era negra, mas livre, e ao que se sabe filha de mãe que foi escrava, talvez africana de nascimento.
O ensaio de Chuck Martin é preciso e precioso. A Roberta me passou um email, eu fiz contato, ele foi solícito e eis-nos aqui. E logo soube que ele era também fotógrafo. Ele mesmo me ofereceu links para conhecer sua arte em imagens. Indaguei da possibilidade de uma entrevista, e aqui está ela.
Uma aula, esta conversa aqui (feita em ótimo português), ministrada com sabedoria e serenidade, envolvendo sua experiência como professor universitário e como fotógrafo e, mais que isso, sua notável capacidade de discernimento. Consciente de suas origens, exercitando reflexões de grande profundidade histórica e imensa sensibilidade para a vida de nosso tempo, um homem bem-humorado e aberto ao desconhecido que se produz no magistério e na arte da fotografia, Chuck Martin será uma excelente revelação para o leitor.
Charles “Chuck” Martin foi professor de literatura (1993-2021) e serviu como chefe (2006-2010) do Departamento de Literatura Comparada na Queens College-City University of New York. Também ensinou na Brown University (1989-1990, e na West Virginia University (1990-1993). Antes de receber o Ph.D., trabalhou como jornalista no Philadelphia Bulletin e no New London Day. Como fotógrafo, faz parte do acervo do Museum of Modern Art e outras instituições, e teve exposições individuais dele no Musée National Public d’Art Moderne et Contemporain (Argel, Argélia) e no Musée de la Halle St. Pierre (Paris). Martin expõe com frequência em New York na June Kelly Gallery, mais recentemente com Affinity with Brazil: 1982-present (2019). No Brasil, fez exposições individuais no Rio de Janeiro, São Paulo e em Mato Grosso.
A quem interessar possa: ele vai estar na primeira sessão do Curso de Extensão “Pensamento, estética e escrita de mulheres negras”, promoção do Instituto de Letras da UFRGS, Núcleo de Estudos Afrobrasileiros e Revista Firminas, dia 16 agora, 18h30min.
Luís Augusto Fischer
Parêntese – Conta um pouco a tua história pessoal, por favor. Onde nasceu, onde fez a escola, como era a família.
Charles Martin – Apesar de não me lembrar do evento, meus pais me falaram que entrei no mundo numa tarde de um domingo, 10 de agosto, 1952. Documentos como a certidão de nascimento, a carteira de motorista e o passaporte vêm repetindo essa data, então deve ser a verdade. Aconteceu num hospital em Darby, Pennsylvania, um município (burgo) um pouco maior que o município vizinho, Yeadon, onde cresci, na avenida Elder, três ou quatro minutos de caminhada do hospital. Aquele dia, com certeza, minha mãe andou não a pé, mas levada de carro.
Meus pais tinham se instalado em Yeadon só um pouco antes desse nascimento, antes havendo morado na cidade grande e vizinha, Philadelphia, com o meu irmão, dez anos mais velho que eu e que mora, há uns 50 anos, na Itália, nas montanhas, trabalhando como tradutor e de vez em quando como crítico de arte. Como o nosso pai, saiu do ninho familiar e desviou-se longe. Meu pai saiu da Carolina do Sul e foi rumo à Pennsylvania. Minha mãe fez um percurso não tão comprido, saiu dum vilarejo na Virgínia, onde minha avó dava aulas numa escola de uma sala, com todas as turmas juntas, da primeira série até o ensino médio. Como criança, eu adorava passar os verões ali. Havia primos também, camponeses, principalmente produzindo para eles mesmo. Um cavalo, às vezes emprestado de um vizinho, ajudava no preparo dos campos. Galinhas botavam ovos, umas vacas davam leite de que se separava o creme para fazer manteiga, e havia uns porcos que comiam o lixo comestível, antes de eles mesmos, no fim de uma temporada, serem enviados ao matadouro para voltarem como comida salgada e seca para ficar defumada num barracão. Havia árvores de maçã e cultivavam milho e uns legumes. Água vinha de um poço e, depois do por do sol, a luz era de velas. O forno era de ferro, aquecido por lenha. O que sobrava da produção eles vendiam no mercado no fim da semana, e domingo todos passavam o dia inteiro na igreja, primeiro numa missa e em seguida em reuniões de comitês da igreja e, para terminar, num piquenique que durava horas. O mercado e a igreja eram as únicas atividades que tiravam as famílias dos sítios. Todos se conheciam.
Muitos anos mais tarde, depois de minha avó falecer, fui visitar o lugar. O serviço de trem tinha diminuído e os trens paravam num vilarejo, Culpeper, só quando havia alguém na estação aguardando pegar o trem. Quando não havia ninguém, um passageiro destinado a Culpeper tinha que continuar, descer numa cidadezinha próxima, e voltar no trem local. Por isso, fui de trem de Philadelphia até Washington, onde tinha que me transferir ao ônibus que ia lá direto. Uma vez na rodoviária uma senhora começou falar comigo e disse que era de Culpeper. Falei: “A senhora devia ter conhecido minha avó, Elizabeth Gaines”. Respondeu sem pausa, “Então, você deve ser o Chuck”. Aquela comunidade era pequena. E inteiramente negra: muitas comunidades americanas eram e continuam segregadas, oficialmente ou não.
Os meus pais, ambos, estudaram em universidades onde a maioria dos estudantes era negra. Minha mãe, depois de ser educada por minha avó, continuou a estudar na Virginia State University. Ao terminar seus estudos, ela se deslocou para a Pennsylvania e trabalhou como secretária especializada em estenografia até casar com o meu pai. Ela criou o meu irmão e eu, e cuidava da contabilidade da empresa do meu pai. Ele foi formado na Lincoln University, na Pennsylvania, habilitado a ensinar, em particular o Latim. Mas escolheu trabalhar por conta própria, organizando serviços de atendimento para clientes de boîtes de noite, que, geralmente, eram em New Jersey, o estado ao outro lado do rio da fronteira, o Delaware.
Minha própria educação, além do que meus pais me ensinaram, passou por escolas públicas em Yeadon, onde crianças de bairros diferentes, geralmente separados pela raça dos moradores, se misturavam. Esta mistura não se estendia aos professores, que eram só brancos, uma situação que, com poucas exceções, era igual na minha universidade. Fui formado pela Yeadon High School e, em seguida, fui estudar na Yale University. Meu pai gostava muito, quando eu estava para entrar na universidade, de dizer aos muitos amigos dele da Lincoln University que eu não consegui estudar ali, então ele me permitiu estudar em Yale. A piada teve muito sucesso, fazendo as pessoas rirem.
P – A tua ligação com a literatura é anterior ou posterior à dedicação à fotografia?
CM – A literatura e a fotografia para mim são um par curioso. Os meus pais assinavam a revista semanal Life, sempre cheia de fotos ilustrando os artigos. Agora sei que entre os fotógrafos havia uns muito famosos, mas como criança simplesmente lia os artigos e observava as fotos. Observava as fotos na enciclopédia que os meus pais tinham, e aquelas nas capas de discos. Não me lembro de livros dedicados à fotografia. Meu pai tinha uma Rolleiflex, que valia como um relógio especial. Usava-a de vez em quando, e algumas vezes transformou o seu escritório, que ficava no subsolo da casa, num laboratório onde revelava as películas e fazia ampliações. Desde criança, acompanhei estas aventuras na escuridão e observava as imagens aparecerem no papel imerso, nas bandejas com produtos químicos. Mas o prazer era acompanhar o meu pai, não aprender a usar o laboratório. Ao mesmo tempo, como meu pai tinha as máquinas dele, e a minha mãe tinha uma RolleiMagic, eu tinha uma pequena Kodak, cujas películas eram levadas à farmácia para serem reveladas. Mas meu interesse em fotografia não era nada especial.
Sempre eu gostava de ler — literatura, enciclopédias, dicionários, revistas e jornais. Mas logo descobri que havia muito na literatura americana que me aborrecia. Muitas das grandes obras, como os romances de William Faulkner que li bastante no colégio, apesar de escritas por frases até deslumbrantes, enervavam por oferecerem o negro geralmente só maltratado, reduzido a uma desgraça ou uma caricatura — todos bem diferentes daqueles que conhecia no dia a dia de minhas comunidades, desde o campo até a cidade. Muitos dos celebrados autores negros, como James Baldwin e Richard Wright, atraíam atenção pela força dos protestos vistos nas obras deles, mas até o Richard Wright, na sua obra-prima, Native Son, apresentou o negro como inteiramente triturado pelo ambiente, e só o personagem do advogado judeu e simpático que aparece no final do livro mostra eloquência e lógica, que usa para defender o negro, reduzido a resmungar e bater fisicamente. Este lado de vida existe, com certeza, e na literatura americana ele prevaleceu. Raramente eram descobertos os prazeres simples e bonitos e evidentes na música popular do negro, como a das Supremes ou dos Temptations, da gravadora Motown, ou de Sam & Dave ou de Booker T., de Stax Records. Na música popular, o povo negro podia ser completo, do blues até o jazz. É interessante notar que, atualmente, com o vigor e popularidade da música rap, especialmente a vertente “gângster”, voltamos a uma visão geralmente atropelada, bem semelhante à produção de eras da literatura americana, onde por muito tempo céus bonitos, flores perfumadas e coloridas, mais amor e amizade, eram desligados do povo negro, que carregou, ao contrário, o peso de sofrer até o ponto de não conhecer uma vida. Assim, na universidade, além de ler a literatura de minha língua, comecei ler em francês uns livros do Caribe e, em particular, Os Contos de Amadou Koumba, de Birago Diop: contos africanos com personagens—muitas vezes animais—mas dignas e livres da condição de escravizados, assim como da condição de pessoas desequilibradas. Eu tinha começado a estudar o francês por ele ter sido um curso obrigatório no colégio. Fui à França para melhorar meu uso da língua, continuei lendo várias literaturas e escolhi fazer uma concentração em literatura. Ao terminar a universidade fui trabalhar como jornalista.
Os fotógrafos no jornal faziam todo esforço para pegar imagens úteis para os repórteres, querendo saber o que estes estavam procurando, especialmente no caso de artigos que não tratavam das notícias. Como escrevi vários artigos daquele tipo, fiquei consciente das imagens efêmeras e sentia a falta de não poder fotografá-las, mas nunca tentei. Uns anos mais tarde, decidi começar a estudar uma pós-graduação—mais uma vez em Yale—e escolhi Estudos Afro-americanos. Sabia que iria ao Brasil para pesquisar depois do primeiro ano, e numa praça diante de uma biblioteca cruzei com um amigo chinês-americano que eu não via há muitos anos. Ele havia acabado de voltar da primeira visita dele à China. Tive a sorte de lhe perguntar se tinha feito fotos. Respondeu que sim, mas que como não entendia de usar a máquina, nenhuma das fotos deu certo. Ao ouvir isso, eu me disse que eu não queria fazer igual no Brasil. Daquele momento comecei a ler manuais de fotografia e, mais importante, comecei a folhear livros de fotos, vendo páginas e páginas de fotos bem compostas e organizadas. Fui ao Brasil, fotografei bastante, mandei revelar uns rolos para verificar que tudo tinha dado certo, e ao voltar revelei os demais. Descobri que as pessoas achavam boas as minhas fotos e montei uma exposição. Como nunca pude desenhar, fiquei surpreso de me ver como um artista visual! Procurei um professor de fotografia no departamento de arte e fiz uns cursos para aprender a parte técnica de fotografia. Fiz mais no laboratório universitário do que naquele do meu pai, consegui fazer ampliações boas, mas o interessante para mim é ver. Depois das aulas preferi ter ampliações feitas por especialistas. Um amigo meu, pintor, perguntou se eu revelava o filme ou fazia as ampliações. Quando disse a ele que não, ele respondeu que eu era mestre mesmo: que eu só olhava! Hoje, com o digital, faço mais. Prefiro muito o computador e luzes às químicas e às sombras.
Depois de ainda mais um ano nas aulas de Estudos Afro-americanos, saí do programa e entrei no departamento de espanhol e de português, onde fiz o doutorado. Na pós-graduação estudei, como tinha feito na universidade como undergraduate [estudante de graduação], com o Emir Rodríguez Monegal, crítico, biógrafo do Borges, e muitas outras coisas. Estudei muita teoria—quando fiz a pós-graduação era o auge de desconstrução—mas sempre tinha afinidade com algo que o Monegal disse: a literatura, tem que sabê-la. A teoria e a crítica, tem que ir à biblioteca e estudá-las quando for necessário.
No tempo dos estudos, tive experiência de lecionar umas aulas, e ao terminar o programa comecei a dar aulas numa universidade em New Jersey.
[Continua...]