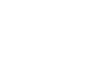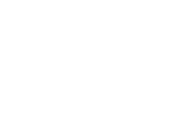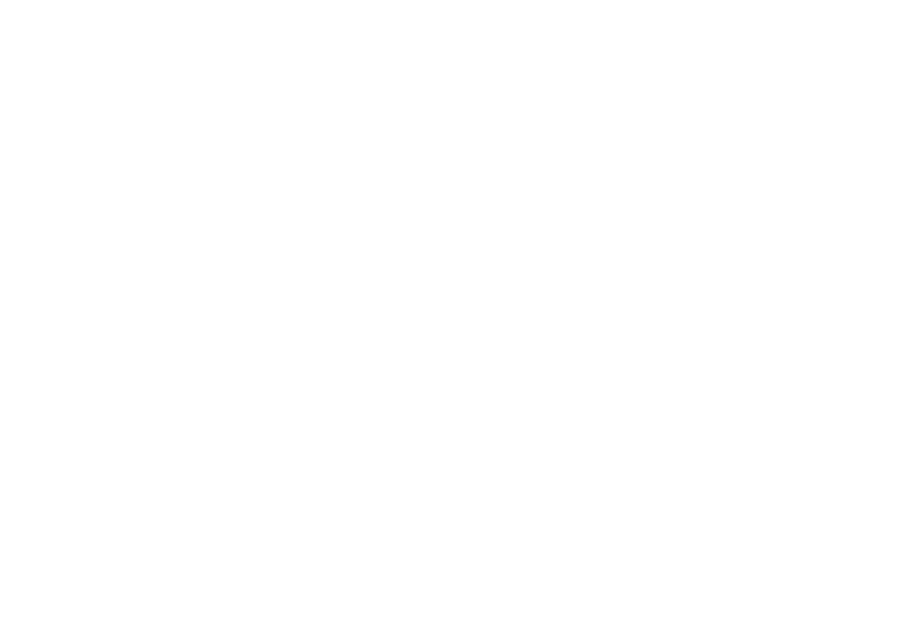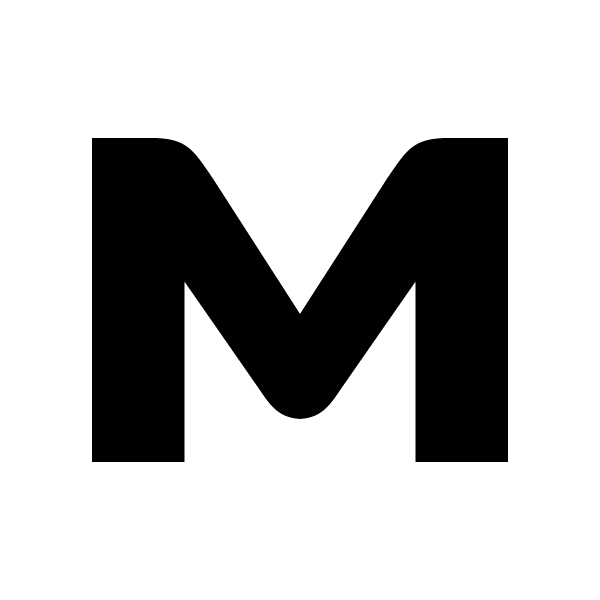O estado do Estado
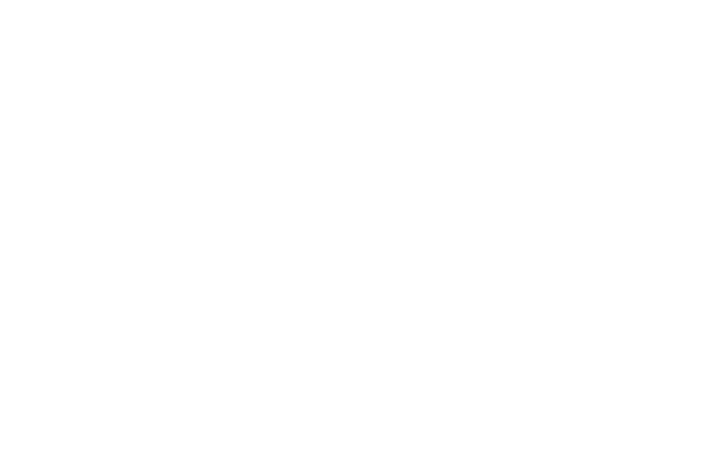 Foto: Arquivo pessoal
Foto: Arquivo pessoalEntrevista com Márcio Rosa Rodrigues de Freitas
A Parêntese conversou com Márcio Rosa Rodrigues de Freitas, engenheiro civil, especialista em Saneamento e Recursos Hídricos e Mestre em Energia e Meio Ambiente. Em seus mais de 40 anos de trajetória profissional, Freitas exerceu cargos e funções em diversos órgãos nos três níveis de Governo, com destaque para a CORSAN, ANA e IBAMA onde foi Diretor de Qualidade Ambiental e Presidiu a Câmara Técnica de Controle e Qualidade Ambiental do CONAMA.
Parêntese: Márcio, algo de que toda vida falamos é a respeito dos desmontes das instituições públicas e os avanços dos serviços de consultoria privada substituindo a inteligência estratégica para as políticas públicas. Tu poderias fazer um breve histórico desse processo na área de Recursos Hídricos no Rio Grande do Sul? Dá alguns exemplos do que foi desmontado, por favor.
Márcio Freitas: Desde o princípio do processo de transição da ditadura para a democratização do País, assistimos a uma disputa de modelos que pode ser resumida na pergunta clássica “qual o tamanho e o papel do Estado que queremos”? É bem compreensível, afinal estamos saindo de uma longa tradição de presença estatal desde a década de 1930 até a década de 1990.
Curioso verificar que em momentos de crise clama-se por um Estado que já não há e contra o qual sucessivas reformas vêm sendo feitas, sempre no sentido da redução do seu tamanho administrativo, mas também, das suas competências. Pouco antes da ocorrência da epidemia de COVID o SUS se encontrava “na marca do pênalti” da sua privatização. Hoje, dado seu papel decisivo naquela emergência, ninguém se atreve a retornar com este assunto.
Para trazer um pouco das nossas façanhas passadas, destaco iniciativas gaúchas na administração pública que guardam estreita relação com a crise atual. Em 1965 o RS criou uma Companhia Estadual de Saneamento inovadora no seu arranjo institucional, que propunha um sistema de subsídios cruzados entre municípios superavitários e deficitários na prestação dos serviços de saneamento, este modelo foi adotado nacionalmente com a criação do PLANASA em 1971.
O Movimento ambientalista Gaúcho da década de 80 foi pioneiro em pautar politicamente questões ambientais como o Código Florestal e a lei de Agrotóxicos, posteriormente regulamentados em Lei Nacional. A primeira autarquia dedicada à gestão ambiental, do Brasil, nasceu ainda na década de 70, o Departamento de Meio Ambiente na Secretaria Estadual de Saúde, antes mesmo da existência da Política Nacional de Meio Ambiente.
A partir da cheia de 1941, na década de 70, o Departamento Nacional de Obras e Saneamento – DNOS – projetou o sistema de proteção de cheias da Região Metropolitana de Porto Alegre e uma das exigências dos financiadores do projeto foi a criação daquela que seria a primeira autarquia do Brasil, inteiramente dedicada à gestão das águas pluviais, o DEP/PMPA. A Lei Estadual de Recursos Hídricos é de 1994, a Lei Nacional é de 1997 mas em 1988 foi criado o primeiro Comitê de Bacia nos moldes em que ambas as Leis vieram a propor, o COMITESINOS, e um ano após o COMITÊ Gravataí.
A METROPLAN (hoje quase extinta), em 1995 publicou uma série de cadernos executados em parceria com a CPRM, denominados Informações Básicas para a Gestão Territorial, onde identificava, em escala municipal, as vocações de uso do solo natural e as áreas de risco a deslizamentos e enchentes na RMPA. Uma simples consulta a estes cadernos na hora da elaboração dos Planos Diretores municipais teria poupado recursos significativos á população gaúcha.
São só alguns exemplos, devo ter esquecido outros, mas a questão é: o que se perdeu de inteligência e capacidade administrativa nestes últimos 30 anos no estado do RS? Por exemplo, onde estará o acervo do DNOS, tão precioso nesta hora de reconstrução? Provavelmente na mão de alguma empresa de consultoria que agora vende estas informações ao estado, que por sua vez não tem mais capacidade de implementá-lo.
Suspeito que o desmonte da capacidade administrativa e da inteligência atende a interesses bem específicos e por isso foi tão bem sucedido. A iniciativa privada que gravita em torno dos recursos públicos, como empresas de consultoria e empreiteiras podem, na ausência de controle e fiscalização, não só executar seus serviços mais livremente, como assumir o papel propositivo das ações necessárias que antes, vindo prontas do poder público, nem sempre atendiam aos interesses privados.
Por outro lado, os interesses dos governos, nem sempre coincidentes com os interesses do Estado, também transitam com mais facilidade na ausência de um corpo técnico permanente que sempre trará aspectos legais e técnicos que dificultam ações de mais curto prazo ou a interesses menos republicanos. Estas considerações tornaram-se mais evidentes quando nosso liberalismo migrou do Estado mínimo proposto no Governo FHC para o estado quase zero preconizado pelo Governo Bolsonaro, onde as porteiras estão abertas para a boiada passar. Acredito, pois, que só será possível a reconstrução do estado do Rio Grande do Sul a partir da reconstrução do Estado do Rio Grande do Sul, independente do tamanho que tenha.
P: Às vezes a agenda ambiental avança por caminhos surpreendentes. Tu me contaste o caso do Projeto Pró-Guaíba. Poderias dividir essa história com os leitores da Parêntese?
M: É curioso, não é? Outro dia peguei uma publicação do Pró-Guaíba e tinha uma referência ao nome Guaíba dizendo que significava “lugar de todas as águas”, quase irônico neste momento. Não sei se todos estão lembrados do Pró-Guaíba e seu contexto, mas vou tentar resumir aqui.
No início da década de 90 surgiram várias iniciativas configuradas em programas de despoluição de bacias hidrográficas. Estas iniciativas iniciaram em São Paulo e no Rio de janeiro com os Programas de Despoluição do Tietê e da Baía da Guanabara. Lembro que em 1992, sob o governo Alceu Colares (PDT) no RS, a Secretaria de Planejamento teve a iniciativa de buscar recursos no Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID – para a despoluição do Guaíba, criando o Pró-Guaíba.
Embora o enfoque do BID fosse ambiental, no RS o interesse era pelas obras de saneamento, mais especificamente de sistemas de esgotos sanitários, uma vez que tínhamos na Corsan e no DMAE projetos tanto para a Região Metropolitana e para Porto Alegre, mas não tínhamos recursos para sua implantação.
Para o governo a linha de financiamento oferecida veio a calhar, mas o Banco exigia um Programa Ambiental e por isso, depois de longas negociações, o acordo firmado previa financiamento de 60% do programa pelo BID e 40% de contrapartida do estado. As obras de saneamento ficaram nos 60% e as obras, ações e planos com cunho mais ambiental ficaram como contrapartida do Estado.
Resumindo, eu diria que esta foi a razão pela qual o Programa acabou, por absoluta falta de recursos públicos, tão logo as obras de saneamento foram concluídas, lá pelo ano de 1998 ou 99. Mas acho interessante destacar algumas características do Programa que jamais ocorreriam nos tempos atuais de Estado mínimo.
Em primeiro lugar, todos os projetos e programas apresentados pelo estado foram concebidos e desenhados dentro da estrutura técnica do Estado. Em segundo lugar, o arranjo institucional para implementação do Programa era amplo e contou com o envolvimento dos seguintes órgãos: Conselho Estadual de Recursos Hídricos, Metroplan, FEPAM, CORSAN, FDRH (Fundação de Recursos Humanos), EMATER, os Comitês de Bacia existentes ou em formação na Região Hidrográfica do Guaíba, ONGS como a AGAPAN, as Prefeituras da Bacia e, em especial, o DMAE de Porto Alegre, que na época já possuía, em elaboração, um modelo hidrológico para simulação de vazões e cargas no Guaíba.
Havia uma empresa de consultoria que exercia o apoio à Secretaria Executiva do Programa, exercida pela Secretaria de Planejamento, mas com uma função de apoio mesmo, viabilizava as demandas, apoiava a realização das licitações e contratos de execução, por exemplo. Portanto, pode-se dizer que foi um programa completamente “chapa branca”.
Destaco que o arranjo institucional obtido na época propiciou uma integração e troca de conhecimentos e informações inédita até então e, embora o Programa não tenha tido êxito em programas mais estruturantes, como a rede de monitoramento integrada proposta na época, certamente impulsionou iniciativas como a implantação do Sistema de Recursos Hídricos Estadual.
P: Quais as potencialidades que apresenta o Sistema Nacional de Recursos Hídricos para a nossa Bacia Hidrográfica do Guaíba?
M: Em certas situações, o indispensável é o impensável. É curioso que um sistema tão bem bolado como o de Recursos Hídricos seja completamente ignorado a cada ocorrência de eventos extremos, seja seca ou cheia. Quase ninguém cita a existência do sistema.
Na tragédia gaúcha pelo menos a base territorial do sistema, a Bacia Hidrográfica, foi mencionada na mídia, mas neste caso era inevitável pelas próprias características do evento. Fala-se agora na Região Hidrográfica do Guaíba, que existe no RS desde 1994, instituída na Lei Estadual de Recursos Hídricos.
Particularmente, atribuo alguns fracassos das nossas Leis e Políticas tanto na área de recursos hídricos quanto na área ambiental a importações mal feitas. Tanto nossa legislação ambiental, quanto a de recursos hídricos são adaptações de modelos bem-sucedidos no exterior. A lei de Recursos Hídricos tem origem no modelo francês de gestão.
A lei de 1994 parte do fundamento de que a água é um bem público, escasso e que tem valor econômico, daí ser tratada como recurso. Os objetivos do sistema são propiciar o uso múltiplo das águas para a atualidade e para as gerações futuras e a prevenção e defesa contra eventos hidrológicos críticos. A lei estabelece como unidade de planejamento não o curso d´água mas sim o território da Bacia Hidrográfica, considerando que a qualidade e a quantidade de água são funções do uso do solo.
A partir destas considerações e de algumas diretrizes, estabelece os chamados instrumentos de gestão destes recursos, a saber:
- Os Planos de Recursos Hídricos – que são planos diretores do território da bacia onde são estabelecidos, dentre outros metas de racionalização dos usos das águas; as medidas e programas a serem desenvolvidos para o atingimento das metas; as prioridades para a outorga; os objetivos de quantidade e qualidade da água; as diretrizes, critérios para a cobrança pelos usos e a proposta para criação de áreas sujeitas a restrição de uso com vista à proteção dos mananciais;
- O enquadramento dos cursos d`água que significa estabelecer objetivos de qualidade das águas compatíveis com os usos desejados para o presente e futuro, destas águas;
- A outorga dos direitos de uso -que estabelece num determinado tempo qual a quantidade de água disponível para cada usuário, ou seja, como a água é um bem público cabe ao Estado controlar a sua distribuição conforme a disponibilidade em cada bacia;
- A cobrança pelo uso das águas uma vez que a água tem um valor econômico, sua cobrança, além de dar ao usuário uma indicação do seu real valor, possibilita obter recursos adicionais para a gestão e estimula o uso racional; e
- O sistema de Informações em Recursos Hídricos – que é um sistema de coleta, tratamento, armazenamento e recuperação de informações sobre os recursos hídricos, que embora mais abrangente, pode ser exemplificado na rede de monitoramento hidro meteorológico da bacia.
A gestão na Bacia Hidrográfica, contaria ainda com um Comitê Deliberativo composto, paritariamente, pelo poder público, usuários e sociedade civil e por uma Agência de Águas, órgão técnico executivo das decisões do Comitê. Portanto, o sistema é descentralizado, democrático e participativo, elementos oriundos do Brasil emergido na transição democrática e na Constituição Federal de 1988.
Esta é a espinha dorsal do sistema e com ela poderiam estar bem equacionados os nossos problemas de gestão dos recursos hídricos. Mas não estão, tanto que ele permanece ignorado embora implantado ainda que parcialmente, na maior parte do território nacional. No caso específico do RS, acredito que o momento é propício para a retomada da implantação de dois instrumentos ainda não implantados no Estado, como a criação de uma Agência para a Bacia Hidrográfica do Guaíba e a cobrança pelo uso das águas.
Não é simples e neste momento político e eu diria que é quase impensável. Na Lei estadual a agência é um órgão público, não sei se ainda permanece assim, mas na sua origem era. Não vejo, neste governo atual, este propósito. Mas, certamente falta uma centralidade técnica com capacidade e inteligência para alavancar os demais instrumentos de gestão e capitanear as intervenções estruturais e não estruturais necessárias para o uso racional do solo e das águas na região.
Em relação a cobrança, ao que me consta, encontra-se completamente descartada no RS, também por razões ideológicas e por forte pressão do Agronegócio, maior usuário das águas ( cerca de 70% dos volumes outorgados no Brasil), da indústria e das próprias companhias de saneamento. Quando vemos os recursos de socorro à tragédia chegando ao estado e verificamos a ausência de foco na sua captação e aplicação penso que uma agencia única na Bacia, dotada de um plano, faria toda a diferença.
P: Márcio, temos uma questão um tanto filosófica ao tratar a água como um recurso. Do ponto de vista econômico, a depender da escola de interpretação, faz sentido. Mas dependendo da abordagem, a coisa fica mais complicada. Por exemplo, para Karl Marx a noção de trabalho é social, mas é fundamentalmente a transformação humana da natureza (incluindo a água). Já o capital é a expansão do que é fruto do trabalho (valores de uso, valores de troca e valor) em um modo de produção específico, que hoje tem a hegemonia das finanças. Como tu situas essa questão?
M: Pô, aí você pega pesado, pedir pra botar banca logo com o velho e bom Marx! Não sei se alcancei todas as nuances da questão, mas vamos lá. Se Marx chama de trabalho a transformação humana da natureza, é possível a gente imaginar que a matéria prima do trabalho é a natureza e por isso acredito que cabe o termo recurso natural. Se este recurso é escasso e, talvez na época o camarada Carlos não se tivesse a dimensão de escassez que temos hoje, dado o grande aumento de pressão humana para o uso dos recursos naturais, nada mais natural que seja atribuído um valor econômico a ele.
Considerar a água somente como recurso é reduzir sua dimensão para a vida na terra, etc… Mas acho que cabem duas leituras, uma antropocêntrica, que está preocupada com a manutenção do modo de vida humano e outra, mais holística que se preocupa com Gaia enquanto planeta vivo.
Não acho que seja o caso de levar isso muito a sério. Houve uma grande polêmica no início do século, que ainda persiste, com a questão das mudanças climáticas. Uma turma atribuía as mudanças a ação antrópica e outra afirmava que a influência humana não é significativa frente aos ciclos climáticos do planeta e a influência solar, etc…
Eu cá como engenheiro pergunto: que diferença faz? O fato é que o clima está esquentando e se a gente não se adaptar, vai dançar, certo?
E veja: para além da existência humana, sabe-se que a Terra é um planeta de 4 bilhões de anos, onde a vida ocorre há 2 bilhões de anos, que já teve a mesma atmosfera de Vênus e só passou a ter esta atmosfera rica em oxigênio e propícia a vida humana a cerca de 200 milhões de anos. Portanto, pode-se pensar que nossa espécie que tem uns 100 mil anos, e que só faz uns 20 mil anos que habita um clima favorável à sua expansão.
Isso para argumentar que não é o planeta que precisa ser salvo, mas sim a espécie humana. Mas também é verdade que a atmosfera atual, superavitária em oxigênio, decorre do grande sequestro de carbono ocorrido há 200 milhões de anos, devido à extinção de 98% dos seres vivos sobre a Terra, lembrando que os tão falados dinossauros só seriam extintos 120 milhões de anos depois.
Este sequestro de carbono formou as reservas de carvão e petróleo que o homem começou a queimar há uns 200 anos e que hoje contribuem para o aquecimento global, ou seja, não dá para negar a ação humana e, portanto, além de adaptar nossos processos econômicos precisamos mitigar os efeitos decorrentes desta liberação de CO2 na atmosfera.
Quando me meto a filosofar sobre a relação homem natureza, prefiro Lao Tzu: “se o Céu e a Terra nada podem fazer de durável, muito menos o pode o Homem!”
Precisamos de uma outra lógica econômica, espelhada nos processos cíclicos de matéria e energia da natureza, mais racional do que usar a água potável para afastar dejetos das nossas casas e assim poluir ainda mais os Rios. Mas isso é quase como imaginar os índios guaranis do Paraguai ganhando a guerra contra a Inglaterra.