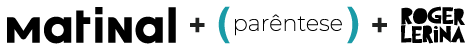O nome muito provavelmente nada tivesse a ver com o natal. Ou com alguma data próxima. Natalício nascera no inverno de 1983, em uma cidade de fronteira oeste bastante distante da Comarca serrana em que, quase 13 anos depois, eu escolhera trabalhar. Pouco se sabia sobre seus pais, sendo-me apresentado como o menino órfão da cidade e seu único adolescente infrator. Isso traduzia alguns significados: o primeiro, mais óbvio, de que nem seria necessário muito esforço por parte das autoridades para apontar o responsável por pequenos delitos quando se desconhecesse a autoria; o segundo, mais sutil, de que talvez fosse urgente encontrar alguém que pudesse tutelar Natalício, evitando-se justamente uma culpa indevida. Uma assistente social foi quem acabou se afeiçoando por Natalício a meu pedido. Não que houvesse muita opção. Mas era notável o esforço daquela que tinha sido professora de séries iniciais e conhecia bastante bem a realidade do menino. De oficina de mecânica à fabricação de licores com ervas aromáticas na companhia de frades, tudo valia para a salvação do menor. Afinal, não sendo natural da região, não era incomum o momento em que a sugestão de expulsão de Natalício da cidade ingressasse na pauta do dia – “Uma vez excitados, os espíritos não mais se detêm”, diria Voltaire no seu Tratado sobre a tolerância. Para acalmar os ânimos, foi aberta uma pasta de acompanhamento de conduta no Foro local, e quase toda semana ele passava para justificar por onde andava. Às vezes, quase enlouquecia as demais autoridades: “Não entendi, Natalício. Foste fazer o quê num puteiro?”, perguntava um promotor constrangido. E ele, incorporando o sotaque colono da região, respondia: “Ver o potro, ora.” Era de uma ingenuidade comovente. Assim como a juíza Fiona Maye, personagem fictícia do livro A balada de Adam Henry, de Ian McEwan, acreditava ser possível realizar justiça por meio de interferência estatal quando ao indivíduo faltasse capacidade de decisão, da mesma forma imaginei, em algum momento, que a esse mesmo Estado fosse viável suprir as carências afetivas de menores expostos à sorte da vida. A afirmativa de Fiona Maye, de que “é o bem-estar da criança que preside a minha decisão e cumpre a mim decidir o que dita o bem-estar de alguém”, bem poderia ter sido minha àquela época. Há quem diga que julgar não é uma tarefa simples, por importar na construção de juízos de valoração sobre a conduta do outro por quem, não raro, possa ter falhas de comportamento. Não discordo. Salvo se fosse possível atribuir alguma competência divina ao julgador – o que até se fez possível em outras épocas, por uma ótica distinta –, toda a atividade de julgamento é sempre atrelada a intérpretes imperfeitos que, ao máximo, conseguem expressar uma pretensão de correção sob determinadas condições específicas. Hannah Arendt, no seu Responsabilidade e julgamento, já lembrava que “há várias razões pelas quais a discussão do Direito ou da capacidade de julgar incide na mais importante questão moral”. O ato de julgar pode ser ainda mais complexo quando […]
Quer ter acesso ao conteúdo exclusivo?
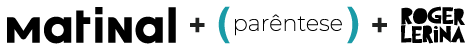 Assine o Premium
ou faça login
Assine o Premium
ou faça login
Você também pode experimentar nossas newsletters por 15 dias!
Experimente grátis as newsletters do Grupo Matinal!
 O nome muito provavelmente nada tivesse a ver com o natal. Ou com alguma data próxima. Natalício nascera no inverno de 1983, em uma cidade de fronteira oeste bastante distante da Comarca serrana em que, quase 13 anos depois, eu escolhera trabalhar. Pouco se sabia sobre seus pais, sendo-me apresentado como o menino órfão da cidade e seu único adolescente infrator. Isso traduzia alguns significados: o primeiro, mais óbvio, de que nem seria necessário muito esforço por parte das autoridades para apontar o responsável por pequenos delitos quando se desconhecesse a autoria; o segundo, mais sutil, de que talvez fosse urgente encontrar alguém que pudesse tutelar Natalício, evitando-se justamente uma culpa indevida. Uma assistente social foi quem acabou se afeiçoando por Natalício a meu pedido. Não que houvesse muita opção. Mas era notável o esforço daquela que tinha sido professora de séries iniciais e conhecia bastante bem a realidade do menino. De oficina de mecânica à fabricação de licores com ervas aromáticas na companhia de frades, tudo valia para a salvação do menor. Afinal, não sendo natural da região, não era incomum o momento em que a sugestão de expulsão de Natalício da cidade ingressasse na pauta do dia – “Uma vez excitados, os espíritos não mais se detêm”, diria Voltaire no seu Tratado sobre a tolerância. Para acalmar os ânimos, foi aberta uma pasta de acompanhamento de conduta no Foro local, e quase toda semana ele passava para justificar por onde andava. Às vezes, quase enlouquecia as demais autoridades: “Não entendi, Natalício. Foste fazer o quê num puteiro?”, perguntava um promotor constrangido. E ele, incorporando o sotaque colono da região, respondia: “Ver o potro, ora.” Era de uma ingenuidade comovente. Assim como a juíza Fiona Maye, personagem fictícia do livro A balada de Adam Henry, de Ian McEwan, acreditava ser possível realizar justiça por meio de interferência estatal quando ao indivíduo faltasse capacidade de decisão, da mesma forma imaginei, em algum momento, que a esse mesmo Estado fosse viável suprir as carências afetivas de menores expostos à sorte da vida. A afirmativa de Fiona Maye, de que “é o bem-estar da criança que preside a minha decisão e cumpre a mim decidir o que dita o bem-estar de alguém”, bem poderia ter sido minha àquela época. Há quem diga que julgar não é uma tarefa simples, por importar na construção de juízos de valoração sobre a conduta do outro por quem, não raro, possa ter falhas de comportamento. Não discordo. Salvo se fosse possível atribuir alguma competência divina ao julgador – o que até se fez possível em outras épocas, por uma ótica distinta –, toda a atividade de julgamento é sempre atrelada a intérpretes imperfeitos que, ao máximo, conseguem expressar uma pretensão de correção sob determinadas condições específicas. Hannah Arendt, no seu Responsabilidade e julgamento, já lembrava que “há várias razões pelas quais a discussão do Direito ou da capacidade de julgar incide na mais importante questão moral”. O ato de julgar pode ser ainda mais complexo quando […]
O nome muito provavelmente nada tivesse a ver com o natal. Ou com alguma data próxima. Natalício nascera no inverno de 1983, em uma cidade de fronteira oeste bastante distante da Comarca serrana em que, quase 13 anos depois, eu escolhera trabalhar. Pouco se sabia sobre seus pais, sendo-me apresentado como o menino órfão da cidade e seu único adolescente infrator. Isso traduzia alguns significados: o primeiro, mais óbvio, de que nem seria necessário muito esforço por parte das autoridades para apontar o responsável por pequenos delitos quando se desconhecesse a autoria; o segundo, mais sutil, de que talvez fosse urgente encontrar alguém que pudesse tutelar Natalício, evitando-se justamente uma culpa indevida. Uma assistente social foi quem acabou se afeiçoando por Natalício a meu pedido. Não que houvesse muita opção. Mas era notável o esforço daquela que tinha sido professora de séries iniciais e conhecia bastante bem a realidade do menino. De oficina de mecânica à fabricação de licores com ervas aromáticas na companhia de frades, tudo valia para a salvação do menor. Afinal, não sendo natural da região, não era incomum o momento em que a sugestão de expulsão de Natalício da cidade ingressasse na pauta do dia – “Uma vez excitados, os espíritos não mais se detêm”, diria Voltaire no seu Tratado sobre a tolerância. Para acalmar os ânimos, foi aberta uma pasta de acompanhamento de conduta no Foro local, e quase toda semana ele passava para justificar por onde andava. Às vezes, quase enlouquecia as demais autoridades: “Não entendi, Natalício. Foste fazer o quê num puteiro?”, perguntava um promotor constrangido. E ele, incorporando o sotaque colono da região, respondia: “Ver o potro, ora.” Era de uma ingenuidade comovente. Assim como a juíza Fiona Maye, personagem fictícia do livro A balada de Adam Henry, de Ian McEwan, acreditava ser possível realizar justiça por meio de interferência estatal quando ao indivíduo faltasse capacidade de decisão, da mesma forma imaginei, em algum momento, que a esse mesmo Estado fosse viável suprir as carências afetivas de menores expostos à sorte da vida. A afirmativa de Fiona Maye, de que “é o bem-estar da criança que preside a minha decisão e cumpre a mim decidir o que dita o bem-estar de alguém”, bem poderia ter sido minha àquela época. Há quem diga que julgar não é uma tarefa simples, por importar na construção de juízos de valoração sobre a conduta do outro por quem, não raro, possa ter falhas de comportamento. Não discordo. Salvo se fosse possível atribuir alguma competência divina ao julgador – o que até se fez possível em outras épocas, por uma ótica distinta –, toda a atividade de julgamento é sempre atrelada a intérpretes imperfeitos que, ao máximo, conseguem expressar uma pretensão de correção sob determinadas condições específicas. Hannah Arendt, no seu Responsabilidade e julgamento, já lembrava que “há várias razões pelas quais a discussão do Direito ou da capacidade de julgar incide na mais importante questão moral”. O ato de julgar pode ser ainda mais complexo quando […]  O nome muito provavelmente nada tivesse a ver com o natal. Ou com alguma data próxima. Natalício nascera no inverno de 1983, em uma cidade de fronteira oeste bastante distante da Comarca serrana em que, quase 13 anos depois, eu escolhera trabalhar. Pouco se sabia sobre seus pais, sendo-me apresentado como o menino órfão da cidade e seu único adolescente infrator. Isso traduzia alguns significados: o primeiro, mais óbvio, de que nem seria necessário muito esforço por parte das autoridades para apontar o responsável por pequenos delitos quando se desconhecesse a autoria; o segundo, mais sutil, de que talvez fosse urgente encontrar alguém que pudesse tutelar Natalício, evitando-se justamente uma culpa indevida. Uma assistente social foi quem acabou se afeiçoando por Natalício a meu pedido. Não que houvesse muita opção. Mas era notável o esforço daquela que tinha sido professora de séries iniciais e conhecia bastante bem a realidade do menino. De oficina de mecânica à fabricação de licores com ervas aromáticas na companhia de frades, tudo valia para a salvação do menor. Afinal, não sendo natural da região, não era incomum o momento em que a sugestão de expulsão de Natalício da cidade ingressasse na pauta do dia – “Uma vez excitados, os espíritos não mais se detêm”, diria Voltaire no seu Tratado sobre a tolerância. Para acalmar os ânimos, foi aberta uma pasta de acompanhamento de conduta no Foro local, e quase toda semana ele passava para justificar por onde andava. Às vezes, quase enlouquecia as demais autoridades: “Não entendi, Natalício. Foste fazer o quê num puteiro?”, perguntava um promotor constrangido. E ele, incorporando o sotaque colono da região, respondia: “Ver o potro, ora.” Era de uma ingenuidade comovente. Assim como a juíza Fiona Maye, personagem fictícia do livro A balada de Adam Henry, de Ian McEwan, acreditava ser possível realizar justiça por meio de interferência estatal quando ao indivíduo faltasse capacidade de decisão, da mesma forma imaginei, em algum momento, que a esse mesmo Estado fosse viável suprir as carências afetivas de menores expostos à sorte da vida. A afirmativa de Fiona Maye, de que “é o bem-estar da criança que preside a minha decisão e cumpre a mim decidir o que dita o bem-estar de alguém”, bem poderia ter sido minha àquela época. Há quem diga que julgar não é uma tarefa simples, por importar na construção de juízos de valoração sobre a conduta do outro por quem, não raro, possa ter falhas de comportamento. Não discordo. Salvo se fosse possível atribuir alguma competência divina ao julgador – o que até se fez possível em outras épocas, por uma ótica distinta –, toda a atividade de julgamento é sempre atrelada a intérpretes imperfeitos que, ao máximo, conseguem expressar uma pretensão de correção sob determinadas condições específicas. Hannah Arendt, no seu Responsabilidade e julgamento, já lembrava que “há várias razões pelas quais a discussão do Direito ou da capacidade de julgar incide na mais importante questão moral”. O ato de julgar pode ser ainda mais complexo quando […]
O nome muito provavelmente nada tivesse a ver com o natal. Ou com alguma data próxima. Natalício nascera no inverno de 1983, em uma cidade de fronteira oeste bastante distante da Comarca serrana em que, quase 13 anos depois, eu escolhera trabalhar. Pouco se sabia sobre seus pais, sendo-me apresentado como o menino órfão da cidade e seu único adolescente infrator. Isso traduzia alguns significados: o primeiro, mais óbvio, de que nem seria necessário muito esforço por parte das autoridades para apontar o responsável por pequenos delitos quando se desconhecesse a autoria; o segundo, mais sutil, de que talvez fosse urgente encontrar alguém que pudesse tutelar Natalício, evitando-se justamente uma culpa indevida. Uma assistente social foi quem acabou se afeiçoando por Natalício a meu pedido. Não que houvesse muita opção. Mas era notável o esforço daquela que tinha sido professora de séries iniciais e conhecia bastante bem a realidade do menino. De oficina de mecânica à fabricação de licores com ervas aromáticas na companhia de frades, tudo valia para a salvação do menor. Afinal, não sendo natural da região, não era incomum o momento em que a sugestão de expulsão de Natalício da cidade ingressasse na pauta do dia – “Uma vez excitados, os espíritos não mais se detêm”, diria Voltaire no seu Tratado sobre a tolerância. Para acalmar os ânimos, foi aberta uma pasta de acompanhamento de conduta no Foro local, e quase toda semana ele passava para justificar por onde andava. Às vezes, quase enlouquecia as demais autoridades: “Não entendi, Natalício. Foste fazer o quê num puteiro?”, perguntava um promotor constrangido. E ele, incorporando o sotaque colono da região, respondia: “Ver o potro, ora.” Era de uma ingenuidade comovente. Assim como a juíza Fiona Maye, personagem fictícia do livro A balada de Adam Henry, de Ian McEwan, acreditava ser possível realizar justiça por meio de interferência estatal quando ao indivíduo faltasse capacidade de decisão, da mesma forma imaginei, em algum momento, que a esse mesmo Estado fosse viável suprir as carências afetivas de menores expostos à sorte da vida. A afirmativa de Fiona Maye, de que “é o bem-estar da criança que preside a minha decisão e cumpre a mim decidir o que dita o bem-estar de alguém”, bem poderia ter sido minha àquela época. Há quem diga que julgar não é uma tarefa simples, por importar na construção de juízos de valoração sobre a conduta do outro por quem, não raro, possa ter falhas de comportamento. Não discordo. Salvo se fosse possível atribuir alguma competência divina ao julgador – o que até se fez possível em outras épocas, por uma ótica distinta –, toda a atividade de julgamento é sempre atrelada a intérpretes imperfeitos que, ao máximo, conseguem expressar uma pretensão de correção sob determinadas condições específicas. Hannah Arendt, no seu Responsabilidade e julgamento, já lembrava que “há várias razões pelas quais a discussão do Direito ou da capacidade de julgar incide na mais importante questão moral”. O ato de julgar pode ser ainda mais complexo quando […]