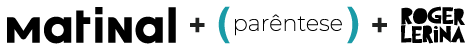Crônica
Tarumã
 Árvore no IAPI, 1994. Ilustração: Edgar Vasques
Árvore no IAPI, 1994. Ilustração: Edgar Vasques
Não sei se um tipo de sono ou de transe era o que conseguíamos ter durante as noites em que a canícula assolou algumas regiões da Europa, em meados de 2019. Não sei se de um tipo de sono ou de transe acordei com a resposta para uma pergunta que jamais havia me feito e que, tentando formulá-la agora, não consigo conhecê-la, precisamente. Publicidade Tarumã era o nome da árvore, ficava plantada em frente à casa da estância, de braços abertos. Neles passei, pendurada, boa parte de minha infância. No colo da tarumã tive fortaleza, navio pirata, um Golias, um balanço. Dali se podia ver a figueira debaixo da qual carneavam as vacas, a lagoa Mirim, a enchente chegando, as nuvens de pó na estrada trazendo visita. Lembro de quando desci da tarumã para nunca mais subir: descobri que aquele galho longínquo, aonde eu então conseguia chegar pela primeira vez, abrigava um ninho de cobras. Algumas das gurias e dos guris que eu fui ficaram ali, naquele instante para sempre. As casas na Bélgica, preparadas para guardar calor, não tinham ar condicionado, e a tecnologia do ventilador era ainda bem rudimentar, em 2019. Passávamos as noites com as janelas abertas, no quarto andar. Com pavor de que ratos entrassem e roessem meus pés – como se eu soubesse, sensorialmente, o que é ter um rato enrodilhado aos pés da cama –, não sei se chegava a pegar no sono. A tarumã dava uns frutinhos verdes, no formato de azeitonas, que ao amadurecerem ficavam pretos e meio murchos. Caíam no chão, os passarinhos não comiam, os adultos diziam que eram tóxicos. Mas a gente usava os frutinhos ainda verdes para brincar de guerrinha, uma brincadeira muito recorrente que acontecia em qualquer lugar onde encontrávamos algo que pudesse servir de munição. Era uma brincadeira muito fácil e muito prática. Brincava-se de guerrinha de sabugo de milho, guerrinha de bosta seca, guerrinha de coquinho de butiá, enfim, se guerreava com qualquer coisa a qualquer momento. Era só dar o primeiro tiro. A estância pertencia ao tio-avô de meu pai, tio da minha avó. O casal de estancieiros não tinha filhos; eles eram por todos chamados de vô e vó. A estância ficava no fim de uma estrada, onde iam dar andarilhos, tropeiros, caçadores. Alguns se aquerenciavam por ali, outros partiam. Não havia peões, capataz, mas alguns agregados e, às vezes, andava por lá algum changueiro, fazia o serviço que tinha para fazer e ia embora. De empregada, que morava na estância, só a cozinheira. E era ela também a única pessoa negra que frequentava aqueles arredores, cotidianamente. De vez em quando, para assar os churrascos, chamava-se o Adauto, que era um homem negro e que tinha construído o pequeno galpão da churrasqueira. Terminada a festa, levava-se o Adauto para a cidade. Nas marcações, sim, aí apareciam peões negros vindos de outras estâncias, convidados (“emprestados”) para aquele misto de festa e serviço, aquela dolorida celebração agonista de virilidades. Passávamos correndo pela cozinha, meu irmão, […]