O editor Daniel Lameira criou, em 2015, um curso com o objetivo de compartilhar com as pessoas – do meio, interessadas e curiosas –, as várias etapas que envolvem a publicação de um livro. Era uma oficina para desmistificar o trabalho da edição, e ele jamais imaginou a repercussão que isso teria. Oito anos depois, a capacitação Vida do Livro já reuniu mais de 1,5 mil alunos.
Além de editor, Lameira é diretor criativo e consultor para o mercado editorial. Um dos fundadores da editora Antofágica, esteve sete anos à frente da direção editorial da Aleph. Sua trajetória começou dentro de livrarias, como a Livraria da Vila e a FNAC, passando por outras editoras como Intrínseca, Novo Século e LeYa. Seu nome está no livro 100 nomes da edição no Brasil (Oficina Raquel, 2020), como um dos “editores do futuro”.
Ele conversou com a Parêntese em um encontro online, no qual falou sobre sua trajetória, o mercado editorial, o momento dos livros e sua mais nova empreitada, a Seiva, uma escola de criatividade prestes a ser lançada.
*
Parêntese – Daniel, muito obrigada por topar conversar com a gente. Como começou tua relação com o mundo dos livros?
Daniel Lameira – Tem alguma coisa da infância, mas, diferentemente de vários colegas, os livros não eram algo muito presente na minha casa. Havia alguns, e eu era filho único. Às vezes, no meio do tédio, era o que restava, e aí fui gostando. Um momento muito importante foi quando li Harry Potter. Era o começo do acesso à internet, tinha o mIRC, e eu passava madrugadas adentro nos canais, conversando com pessoas diversas sobre o assunto. A experiência de ler Harry Potter foi algo, mas muito maior foi a experiência de trocar com outras pessoas que se encontravam ali madrugadas a dentro. Eu tinha 13, 14 anos e aquilo era demais. Acho que foi essa a minha experiência mais potente nesse primeiro contato com o livro. Depois fui lendo algumas outras coisas, e ser leitor virou um pequeno traço de como eu me identificava. Mas lia muito menos do que vejo hoje os jovens lendo.
Mais tarde, fiz estágio na Livraria da Vila. Dali em diante, na livraria, vivendo esse cenário de pessoas muito cultas e amantes da literatura – com interesse pelos clássicos, literatura contemporânea, uma coisa mais atenta a estilo e experimentações –, é que fui ler muito mais e mais atentamente. Não era mais ler para se diferenciar, era quase um ler para fazer parte. Então acho que tinham duas intenções diferentes, antes e depois da livraria.
P – O curso Vida do Livro surgiu em 2015. Como estava a tua vida naquele momento e como surgiu a ideia de organizar o curso?
D – Eu estava trabalhando na Aleph e me sentia – ainda me sinto – privilegiado, muito sortudo de ter encontrado esse caminho, porque é raro alguém que não vem do meio cultural ou de famílias envolvidas com cultura ter a chance de entender como esse mercado funciona. Comecei trabalhando no chão de loja, aprendi o comercial, fui trabalhar no marketing e no editorial. Me sentia numa rara posição de ter entendido minimamente todas as áreas do mercado e me chateava ver como uma área não entendia a outra. Como o setor comercial às vezes não entendia a editoração, e muitas vezes o contrário. Na verdade, até mais como o editorial, normalmente formado por pessoas que se viam como mais cultas, julgavam que o comercial ou o marketing não sabiam fazer a parte deles. Sempre teve essa briga nas editoras. O que eu queria era abrir, fazer quase um exposed dos bastidores de como se faz um livro para todo mundo saber.
Hoje já se fala mais nisso, os booktubers ajudaram muito. Mas naquela época era muito difícil você saber. Eu mesmo não tinha ideia, quando trabalhava em livraria, sobre como se fazia um livro. Achava que tinha uma lógica, algo muito inteligente por trás e que era eu que não tinha acesso àquilo. Então minha vontade era de falar pra todo mundo: “galera, não tem! Ninguém sabe o que está fazendo, não é uma ciência exata. Está cada um fazendo o que acha que é melhor, e é isso”.
Acho que isso, de certa forma, empodera qualquer um. Se o cara da Companhia, da Record, etc. não tem certeza se está fazendo certo, isso libera qualquer um para entender como quer fazer, e não é muito difícil compreender o básico de como se faz um livro. Isso foi crescendo, muito baseado no retorno das pessoas, de elas se sentirem curiosas, felizes quando sabiam desses bastidores – os bonitos e os feios.
Depois de anos, virou um curso online, e foi uma surpresa. Achava que teria 40 pessoas, mas cada turma tinha 500 alunos. E começou a ser o lugar onde eu estava colocando algo mais pessoal, e com autonomia, de como eu acho que a criação podia ser pensada. O curso atual está com 24 professores. Ficou uma pluralidade de vozes, de atuação em áreas diversas, que tenho gostado e me orgulhado muito. Agora vamos começar também a criar conteúdo de referência. Estamos fazendo um catálogo de 100 capistas em atuação no mercado editorial, por exemplo.
P – Atualmente, o Vida do Livro oferece as aulas ao vivo contigo e mais aulas gravadas com outros profissionais. Isso é um monte de conteúdo sobre o mundo editorial.
D – Minha ideia no futuro é isso virar um repositório de conhecimento editorial. Deixar as aulas disponíveis e a cada ano ir aumentando mais mais entrevistas, além do conteúdo de referência. Tem uma aula muito legal, que está disponível gratuitamente agora, sobre o futuro do livro, com o John B. Thompson, em que ele fala uma coisa que acho super interessante: o mais maneiro de se prestar atenção hoje é nos escritores que se desdobraram em mídias diversas na rede. Você pega Aline Valek, por exemplo. Ela tem os romances publicados pela Rocco, mas tem uma newsletter com assinantes (que, se bobear, dá mais dinheiro do que os royalties), tem um podcast, e os assinantes agora fazem parte do WhatsApp com ela, e ela também dá cursos.
O Felipe Castilho também tem isso. Todas as pessoas que o acompanham recebem mensalmente alguns quadrinhos que ele faz. É um movimento dos criadores de se descolarem da monetização através de um meio específico e poderem criar em frentes diversas. A minha dúvida maior, enquanto editora, é qual o papel da editora nesse movimento? É algo que tenho pensado e que ainda não cheguei na resposta. As aulas e o curso são uma investigação sobre esses temas.
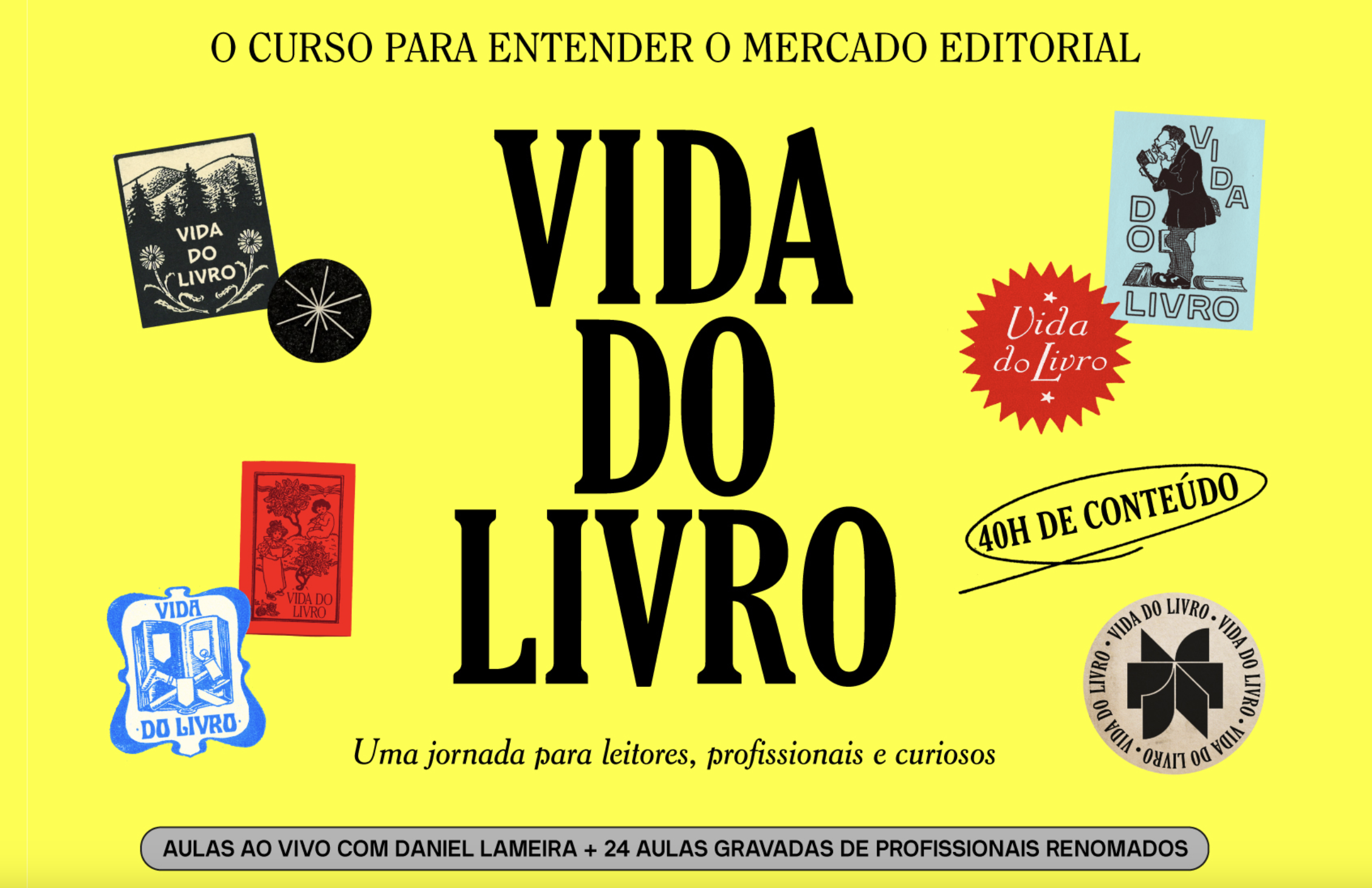
P – O fato de tu não vir de uma formação em Letras teve algum impacto no teu percurso?
D – Uma das habilidades que vejo em mim para lidar com o fazer editorial, com a habilidade de também ver o livro como um negócio, de entender o livro dentro do mercado, foi justamente estar mais afastado do que alguém que veio das Letras ou que chega na área pelo seu conhecimento ou amor profundo pela literatura. Consegui entender o business e como ele funciona. Sou muito influenciado pelas experiências que tive do livro como parte de se comunicar com outras pessoas, e é isso que me move quando estou editando: como estabelecer essa conversa. Quando a gente criou a Antofágica, a ideia era criar os livros e uma experiência em volta do livro que fizesse com que as pessoas se comunicassem, trocassem, criassem uma coleção. Para mim, é menos só sobre a leitura e mais sobre como isso se expande para outras coisas.
P – Você já trabalhou como comprador de livros. Como é essa função dentro da cadeia do livro?
D – Eu comprava livros para todas as FNACs. Chegavam os donos das editoras, com os livros mais diferentes possíveis, do mais literário ao mais comercial. E eram números, planilhas. “Quantos vocês vai pedir? Mil? Dois mil? Cinquenta? Três mil?”, “Qual o desconto? 50%, 52%, 75%?”, “Preciso que você invista em marketing para eu bater minha meta”… Então ali, de fato, é um afastamento necessário, porque os números raramente correspondem ao seu gosto. Pelas contas da FNAC, vários livros que eu tinha lido, que tinham me tocado, não precisava nem ter em loja. Zero exemplares. Se tivesse um já estava forçando a barra porque realmente não vendiam. E livros com os quais eu não me identificava, não me relacionava, vendiam muito.
Então é um exercício de certa humildade, de entender e buscar compreender isso como fenômeno também. Você cria quase uma cisão mental de livros que você gosta e experiencia e livros que você gosta enquanto obras que vão chegar em muitas pessoas. Você começa a identificar o que funciona, quais são as estruturas.
P – Poderia falar um pouco sobre essas estruturas?
D – Por exemplo, o jornalista entende como fazer uma matéria que vai chegar em mais gente. Sabe como fazer um lide [primeiro parágrafo do texto, com as informações essenciais], um título e o que ele tem que entregar primeiro para segurar a pessoa no texto. Fui entendendo isso na literatura e no fazer do livro. O que as pessoas esperam? O que pode surpreender? Para mim, foi um encontro com o estudo de roteiro, de narrativa – pensando no público, que é uma coisa que o cinema e as séries de TV fazem bastante, que o mercado editorial lá fora faz bastante, e o mercado nacional acho que fazia menos, principalmente anos atrás. Acho que agora até esboça mais vontade de criar uma literatura comercial, principalmente para jovens, fantasia e erótico. É aí que você começa a pensar se essa literatura comercial, como a gente chama – que por um lado vem repleta de críticas de ser uma coisa vendida ao capitalismo –, se ela não é o oposto, se não é o tipo de literatura mais democrática que tem, que chega nas pessoas – como a tela da Globo.
Qual é o valor da gente pirar e querer empurrar goela abaixo os livros que pra gente foram importantes, quando a gente é, de certa forma, uma bolha muito pequena, que teve a chance de ter acesso a algumas coisas, enquanto as pessoas ficam muito tocadas pelo Paulo Coelho? É isso. Quem é a gente para falar que elas estão erradas e a gente tá certa, que nossas experiências são mais válidas?
P – Isso abre para uma discussão bem importante sobre o acesso à cultura e o que consideramos cultura.
D – Pois é. Que cultura é essa? Cultura academicista? Um establishment definido por quem, por quais vontades e interesses? Mas o livro, eu acho, traz essa dicotomia mais que outras mídias, porque na música não tem tanto isso, no cinema não tem tanto isso. É aceitável assistir um blockbuster ou ouvir o hit do momento. Enquanto a literatura tem que ter algo de salvador, algo formativo. É a grande arte literária e tudo mais, e é isso que afasta. Vira o maior inimigo da gente fazer as pessoas se interessarem por ler.
P – Olhando para o mercado, do ponto de vista de consumidora, me parece haver mais pessoas escrevendo, muitos livros sobre escrita sendo publicados, muitas oficinas, grupos e coletivos de escrita, novas editoras independentes, novos lançamentos, etc. Tu achas que estamos vivendo um certo boom editorial?
D – Acho que isso é resultado de uma democratização do acesso à internet, de as pessoas conseguirem acessar essas informações e terem ferramentas para criar. Acho que há, sim, um boom de criadores, seja escrevendo ou editando. Hoje em dia você consegue fazer sua editora, seu Instagram e sua newsletter, subir seu marketplace na Amazon, fazer seu e-commerce, coisa que era impossível quando abri a primeira turma do curso. As pessoas chegavam na aula falando: “como que abre uma editora?”, e era muito difícil, porque você precisava de contatos na mídia tradicional, de uma aprovação da livraria, de logística. Hoje é completamente diferente, não tem mais essas limitações materiais.
Lembro das pessoas indo fisicamente na Saraiva, tentando apresentar os livros delas, e os compradores não recebendo, “você é pequena demais, não faz sentido”. Isso implodiu, de certa maneira. Embora, claro, toda uma crítica deve ser feita de que há uma uberização das big techs com os criadores – sejam editoras, sejam escritores –, de eles ganharem uma fatia do negócio e ficarem cada dia mais reféns do meio de produção. É uma questão macroeconômica. Por um lado, permite essa democratização, por outro, vem com esse lado negativo – mas que também estava presente antes. Talvez o share das livrarias e editoras fosse até maior. É dúbio. Acho que a gente ainda não tem a percepção exata de onde isso vai dar.
P – O que as pessoas esperam ao escrever um livro?
D – A primeira pergunta que faço quando vou editar o livro de alguém é: o que você quer com esse livro? E as pessoas raramente sabem. É muito louco. Você escreveu isso aqui, me manda um áudio falando sobre o que você espera. E as pessoas esperam tudo. Ser publicadas pelas maiores editoras, vender muito, mas esperam também fazer experimentação de estilo, ter reconhecimento acadêmico e de público. É muita expectativa numa coisa só. Então, beleza, você quer ser publicado pela Seguinte? Vamos ver o que está sendo publicado por eles. Essa é a intenção? Então talvez tenham passos de adaptação da sua criação para você chegar aonde deseja. Mas existe essa mística de que você vai criar o que você tem que criar, o que você tem no seu coração, e a editora vai carimbar: válido, não válido. A criação artística literária não é necessariamente sinônimo do mercado editorial, embora se relacione com ele.
P – A editora precisa saber qual é a intenção do autor?
D – A editora vai identificar muito rápido. Vai ler uma página e vai saber: “poxa, isso aqui não tem a ver com o que estamos procurando”.
P – Uma página basta?
D – É, tipo um acorde. Você vai ouvir uma música, você vai ouvir três acordes e a entrada de voz e vai dizer: “putz, isso aqui não vai ser o hit do VMA [Video Music Awards], ou isso aqui é uma música erudita”. Você logo identifica. E quem não tem essa noção muitas vezes é o autor mesmo, e é angustiante, como editor, ver que a pessoa, que fez algo dificílimo – criar uma obra escrita, que provavelmente teve muito esforço para aquilo – não tem noção de que aquele livro não se encaixa na linha editorial da editora. Às vezes há uma visão irreal, um pouco alienada sobre onde aquele texto pode chegar em termos de vendas. De novo, isso não deve impedir a pessoa de poder criar aquilo, mas estar consciente sobre os meios de distribuição é um passo importante para o autor profissional.
Às vezes, algumas pessoas realmente quebram isso, a Aline Bei, por exemplo. Ela publicou um estilo que não tinha nada parecido que tivesse vendido antes, e vendeu. Então não é que seja impossível, mas é preciso entender que é raro isso acontecer. Não à toa, a Aline não publicou o primeiro livro dela pela Companhia das Letras. Ela saiu de uma oficina do Marcelino Freire e publicou pela excelente e independente editora NÓS. A partir do momento que se provou mercadologicamente, a Companhia foi lá e contratou o livro seguinte. É possível fazer inovações, talvez mais em editoras menores, dispostas a arriscar.
P – Qual teu próximo projeto? Poderia nos contar um pouco sobre ele?
D – Minha próxima empreitada vai se chamar Seiva. É uma empresa cujo slogan é “coragem para criar”. É sobre despertar a vontade criativa das pessoas em artes diversas e também entregar livros e cursos que possam dar essas ferramentas para elas – sobre estrutura de roteiro, estilo de escrita livre, superar o medo de criar. Ao mesmo tempo, criar conteúdo digital, ter uma comunidade para as pessoas trocarem ideias.
É uma empreitada que dialoga muito com uma vontade das pessoas darem mais atenção à saúde mental. Uma das ferramentas para isso pode ser o ato de criar, de como você se entende a partir do momento em que se dá a liberdade de escrever, pintar, bordar. Parar de reprimir um pouco esses desejos e ter um espaço pra você, um lugar seguro para fazer isso com pessoas que sejam legais – porque é um lugar de muita exposição, e uma exposição muito sensível a críticas. Estou muito animado e com bastante medo.
É diferente do que foi a Antofágica e diferente do que outras editoras fizeram, que tinham uma visão de fazer algo legal mas ainda muito mercadológica, de quais eram os nichos de mercado que dava para ocupar, o que estava faltando, etc.. Essa é, de fato, algo que eu acredito que vai ser bom pro mundo, mas tenho menos certeza se esses livros vão vender como precisam para organizar e tocar uma empresa. É um nível a mais de desafio para botar isso em pé.
P – Essa mudança de rumo, de fundar a Seiva, um negócio que valoriza a criatividade sem necessariamente se preocupar com o mercado ou com a viabilidade financeira, tem a ver com um desejo de ver a coisa por outro ângulo? De abordar a mesma indústria cultural, digamos assim, por outro lado? A tua visão do processo editorial mudou?
D – Acho que eu mudei. Se falasse com você sobre escritores alguns anos atrás, estaria mais com um discurso de “os escritores devem entender mais do que o mercado quer. Tem espaço para escritores nacionais, mas os escritores estão indo mais para o lado da experimentação, e menos de entender o que vai fazer as pessoas lerem”. Acho que mudei um pouco esse conceito na minha cabeça: as pessoas podem escrever o que elas quiserem, e está tudo bem, não necessariamente todo mundo precisa atender o mercado. Estive muito tempo em um lugar de ser esse ratificador. Quem conseguia atender o mercado, eu conseguia ajudar. Para quem não atendia, eu escrevia um e-mail triste: “querido, putz, adorei seu livro, mas não tem como publicar”. No subtexto é isso: seu livro não tem como se pagar. E é muito triste a gente viver assim.
Foi uma forma de me adequar ao que passo a acreditar. Por um lado, dar ferramentas caso a pessoa queira chegar no mercado e atingir esse espaço. Por outro, acolher caso essa não seja a vontade. Vou poder ajudar essa pessoa, não só quem tá na porta esperando para dar um sim ou não. E com a autopublicação crescendo, seja digital, seja no futuro, sob demanda, conteúdo na internet, não sei mais quanto faz sentido esse gatekeeper da editora que diz o que é bom, o que não é, o que as pessoas devem ler… Isso tá fadado a ficar menos relevante a cada tempo.
P – Mas por mais que se tenha caminhos para fugir do sistema, ainda há certa crença, por parte dos escritores, de que sua carreira irá deslanchar quando publicar com as grandes, não?
D – Acho que uma questão boa para se debater é por quê. Qual o motivo? Chegar em mais pessoas? O primeiro pensamento é de que sim, eles vão fazer imprensa, vão botar nas livrarias, fazer um marketing diferenciado. Mas alguém que não é super famoso na literatura nacional e foi publicado por uma editora respeitável vai vender algo como dois mil livros. Dois mil livros as pessoas conseguiriam alcançar sozinhas. Às vezes conseguem até fazer um marketing melhor do que as editoras.
Não acho que chegar aos leitores seja tão distante do resultado de ser publicado pela grande editora, a não ser o resultado psicológico, da validação que você recebe. E isso vem muito relacionado a o que você está buscando ao criar. O que você está buscando ao escrever, ao fazer arte? É a validação dos outros? É de fato chegar a mais gente? Estabelecer uma conversa? É você criar sua linha de pesquisa artística e progredir no autoconhecimento? Não sei. Acho que muita gente vê as editoras – e acho que o mercado se sustenta muitas vezes com essa aura – como as galerias no mercado de arte. A partir do momento em que está na galeria, a mesma pintura que está publicada no Instagram vira outra coisa. É só vir do Instagram da galeria que, de repente, a arte que era desvalorizada passa a ser uma arte muito foda. É um ponto interessante estudarmos e tentarmos entender quais são os caminhos que isso seguirá no futuro.










